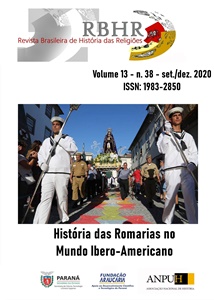O índio brasileiro entre a Umbanda e o Espiritismo na primeira metade do século XX
Resumo
Este texto aborda a presença do índio brasileiro como referente discursivo, tanto na Umbanda quanto em uma realidade religiosa liminarmente postada entre o Espiritismo e aquela. Na primeira direção discute alguns aspectos identitários da figura do índio conforme aparecem em algumas fontes escritas umbandistas da primeira metade do século XX, como a considerada obra pioneira de Leal de Souza de 1933, as teses do Primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda, acontecido em 1941 e na obra “O culto da Umbanda em face à lei”, da autoria de vários intelectuais de Umbanda, surgida em 1944. No segundo caso, coloca em discussão a produção literária da Cabana Antônio de Aquino, tomando como fonte, principalmente a sua Revista “Irradiação”, em circulação desde 1938, bem como a publicação que a antecede, a Revista “Novo Horizonte”, órgão da Cabana de Lysis, em circulação desde 1932. Tanto nas primeiras fontes quanto nas segundas, o índio brasileiro aparece relacionando-se com o nacionalismo do período e com a representação miscigenada por ele assumida. Especificamente sobre a documentação da Cabana Antônio de Aquino e da Cabana de Lysis, conclui-se pela coexistência da representação do índio assumida pelos Caboclos da Umbanda.
Downloads
Referências
ANDRADE, Oswald de. Obras completas de Oswald de Andrade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
ANJOS, José Carlos dos. A filosofia política da religiosidade afro-brasileira como patrimônio cultural africano. Debates do NER, v.7, n. 13, p. 77-96, 2008. .
ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976 [1904].
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CABANA ANTÔNIO DE AQUINO. Pictografia. Disponível em: https://www.cabana.org.br/a-cabana Acesso 24/10/2019.
AUBRÉE, Marion; LAPLANTINE, François. La table, le livre et les esprits.Paris: JC Lattès, 1990.
AZEVEDO, Aline Fernandes de. Sentidos do corpo: metáfora e interdiscurso. Linguagem em discurso, v. 14, n.2, p. 321-335, 2014.
BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. Contribuição a uma sociologia das interpenetrações de Civilizações. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971 [1958].
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. São Paulo: USP, 1996.
_______________. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 2004.
BOYER, Véronique. O Pajé e o Caboclo: de homem à entidade. Mana, n.5, p. 29-56, 1999.
BRASILEIROS, AMAI VOSSA PÁTRIA E CUMPRI VOSSO DEVER. Irradiação: Revista da Cabana de Antonio de Aquino. Rio de Janeiro, v. 2, n.1, p. 11-12, 1939.
BROWN, Diana. Uma história da Umbanda no Rio. In: BROWN, Diana et al. Umbanda e política. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1985.
BUTIÑA, Francisco. Pombal Y Malagrida. Barcelona: Francisco Rosal Y Vancell, 1902. Disponível em : http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080016507/1080016507_01.pdf. Acesso em 20/03/2011.
CANCLINI, Nestor. Garcia. Consumidores & Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1995.
_______________. Culturas Híbridas. São Paulo: EDUSP, 2013.
CARNEIRO, Edson. As Religiões Negras. Negros Bantos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991 [1937].
_______________. Candomblés da Bahia. São Paulo: Martins Fontes, 2008 [1948].
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro: INL, 1962 [1954].
CENTENO, Gilda. Entrevista Entrevista concedida a Artur Cesar Isaia. Porto Alegre, 26 de maio de 1995.
CONCONNE, Maria Helena Villla Boas; REZENDE, Eliane Garcia. A Umbanda nos romances espíritas kardecistas. Reciis, v.4, n. 3, p.51-62, 2010.
DANTAS, Beatriz Góis. Vovó nagô e papai branco. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
_________________. Individualidade e liminaridade: considerações sobre os ritos de passagem e a modernidade. Mana, v.7, n.1, p. 7-29, 2000.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Charcot, L’Histoire et L’Art. Postface. In: CHARCOT, Jean-Martin; RICHER, Paul. Les démoniaques dans l’art. Paris: Macula, 1984.
_________________. Remontages du temps subi. L’oeil de l’Histoire,2. Paris: Editions de Minuit, 2010.
DINIZ, Eli. Engenharia institucional e políticas públicas: dos Conselhos Técnicos às Câmaras Municipais. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DE UMBANDA. Primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Rio de Janeiro: Jornal do Comércio, 1942.
FERNANDES, Estevão Rafael. Ser índio e ser gay: tecendo uma tese sobre homossexualidade indígena no Brasil. Etnográfica, v.21, n. 3, p. 639-647, 2017.
FERNANDES, Estevão Rafael; ARISI, Barbara. Gay Indians in Brazil. Untold Stories of the Colonization of Indigenous Sexualities. Cham: Springer, 2017.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. São Paulo: Global, 2007 [1933].
FRY, Peter. Para inglês ver. São Paulo: Brasiliense, 1982.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.
GIUMBELLI, Emerson. O cuidado dos mortos. Uma história de condenação e legitimação do Espiritismo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.
________________. Zélio de Moraes e as origens da Umbanda no Rio de Janeiro. In: Silva, Wagner Gonçalves da. Caminhos da alma. São Paulo: Summus, 2002.
ISAIA, Artur Cesar. Ordenar Progredindo. A obra dos intelectuais de Umbanda no Brasil da primeira metade do século XX. Anos 90, n. 11, p. 97-120, 1999.
_____________. Espíritos e médiuns na obra de João do Rio e Coelho Neto. In: COSTA, Cléria Botelho; MACHADO, Maria Clara. História & Literatura. Identidades e Fronteiras. Uberlândia: EDUFU, 2006.
_____________. O outro lado da repressão. A Umbanda em tempos de Estado Novo. In: __________. (Org.). Crenças, sacralidades e religiosidades. Entre o consentido e o marginal. Florianópolis: Insular, 2009.
_____________. Religiões afro-brasileiras, sincretismo e representação triádica da nacionalidade no discurso católico brasileiro pré-conciliar. Debates do NER, v. 12, n. 19, p. 29-51, 2011.
______________. Umbanda, intelectuais e nacionalismo no Brasil. Fênix. Revista de História e Estudos Sociais, v.9, n.3, p.1-22, 2012.
______________. O universo mágico no Espiritismo de Umbanda. Revista Brasileira de História das Religiões, v. 5, n. 15, 2013.
______________. A Umbanda como projeto de nomeação da realidade brasileira. Revista de História das Religiões, v.7, n.21, 2015.
______________. Espiritismo, educação e estado laico. Revista Brasileira de História das Religiões, v. 10, n.28, p.63-80, 2017.
______________. Discurso espírita e educação no contexto da laicização do estado francês. Revista Brasileira de História das Religiões, v.11, n.31, p. 123-142, 2018.
_____________. Direitos Humanos e diálogo com o século XXI na Carta Magna da Umbanda. História: Debates e Tendências, v. 19, n. 1, p. 124-134, 2019.
ISAIA, Artur Cesar; AMORIM, Pedro Paulo. O Almenara: as religiões afro-brasileiras em um periódico de oposição à Federação Espírita Brasileira (meados do século XX). Mneme. Revista de Humanidades, v.15, n. 34, p. 166, 2014.
LADOUS, Régis. Le Spiritisme. Paris: Éditions du Cerf, 1989.
LEAL DE SOUZA. O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Limeira: Editora do Conhecimento, 2008 [1933].
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: UNICAMP, 1992.
LEWGOY, Bernardo. Os espíritas e as letras. Um estudo antropológico sobre cultura escrita e oralidade no Espiritismo Kardecista. São Paulo: USP (Tese de Doutoramento em Antropologia Social), 2000.
MAGGIE, Yvonne. Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992.
NINA RODRIGUES, Raimundo. Os africanos no Brasil. Brasília: UnB, 1988. [1933].
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e leitura. Campinas: UNICAMP, 1993.
____________. As formas do silêncio. No movimento dos sentidos. Campinas: UNICAMP, 1995.
___________. Análise de discurso. Princípios & Procedimentos. Campinas: Pontes, 2003.
ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro. Umbanda e sociedade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1991 [1978].
PAIVA, Eduardo França. História & Imagens. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
PALESTRAS DO ALÉM. Biografia de Caramuru. Revista Novo Horizonte, v. 2, n. 10, p. 101, 1933.
PARÉS, Nicolau Luis. A formação do Candomblé. História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: UNICAMP, 2007.
PORDEUS JR, ISMAEL. Umbanda. O Ceará em transe. Fortaleza: Museu do Ceará, 2002.
_______________. Os processos de reetinização da Umbanda no Ceará. Revista de Ciências Sociais, v.34, n.2, 2003.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Identidade nacional: religião, expressões culturais. In: SACHS,Viola (org.). Brasil & EUA. Religião e Identidade Nacional. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
RAMOS, Artur. O Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981, [1934].
RETRATO DE TUPI. Novo Horizonte. Rio de Janeiro, v.1, n.1,p. 30, 1932.
ROITER, Márcio Alves. A influência marajoara no art déco brasileiro. Revista UFG, v. 8, n. 20,p; 19-27, 2010.
ROMERO, Silvio. História da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: José Olyimpio, 1943.
SANTOS, Jocélio Teles dos. Os caboclos nos candomblés da Bahia. Salvador: Sarah Letras, 1995.
SAUDAÇÃO À PÁTRIA. Irradiação: Revista da Cabana de Antonio de Aquino, v. 3, n.1, p. 9, 1940.
SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. Complexo de Ze Carioca. Sobre Uma Certa Ordem da Mestiçagem e da Malandragem. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 29, n.10, p. 17-30, 1995.
SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e Umbanda. Caminhos da devoção brasileira. São Paulo: Ática, 1994.
_________________. Caminhos da alma. Memória afro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2002.
SLENES, Robert. A árvore de Nsanda: cultos kongo de aflição e identidade escrava no sudeste brasileiro (século XIX). In: LIBB, Douglas Cole; FURTADO, Júnia Ferreira (orgs.). Trabalho livre, trabalho escravo: Brasil e Europa séculos XVII e XIX, São Paulo: Annablume, 2006.
SOUZA, Jessé. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro. Brasília: UnB, 2000.
TALL, Emmanuelle Kadya. O papel do Caboclo no Candomblé Baiano. In: CARVALHO, Maria Rosário de; CARVALHO, Ana Magda. Índios e Caboclos. A história recontada. Salvador: EDUFBA, 2012.
TRINDADE, Diamantino. Umbanda e sua história. São Paulo: Ícone, 1991.
__________________. A construção histórica da literatura umbandista. Limeira: Editora do Conhecimento, 2010.
__________________. A tenda espírita Mirim. Limeira: Editora do Conhecimento, 2018.
UMA HISTÓRIA DE CANAGÉ. Irradiação, v. 76, n. 910-913, p.14, 2014.
VÁRIOS UMBANDISTAS. O culto de umbanda em face da lei. Rio de Janeiro, [s.ed.], 1944.
VELHO, Gilberto. 1991 Indivíduo e religião na cultura brasileira. Sistemas cognitivos e sistemas de crença. Novos Estudos, 31, p. 121-129, 1991.
VOVELLE, Michel. As Almas do Purgatório. Ou o tempo do trabalho do luto. São Paulo: UNESP, 2010.
WARREN, Donald. A terapia espírita no Rio de Janeiro por volta de 1900. Religião e Sociedade, v.11, n.3, p. 56-83, 1984.
_____________. A medicina espiritualizada. A homeopatia no Brasil do século XIX. Religião e Sociedade, v.3, n.1, p. 88-107, 1986.
Copyright (c) 2020 Artur Cesar Isaia (Autor)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0): são permitidos o acompartilhamento (cópia e distribuição do material em qualqer meio ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais.
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.