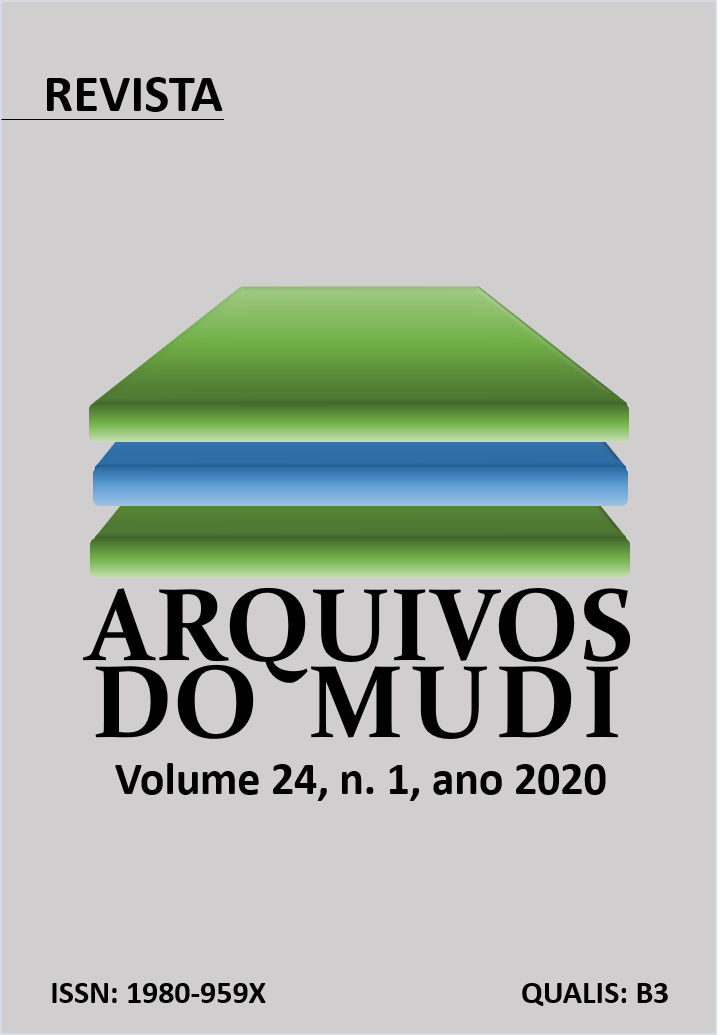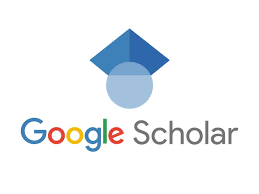LITERATURA E CIÊNCIA: O LIVRO FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY COMO POSSIBILIDADE PARA UMA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
Resumo
A ciência não pode ser ensinada apenas como um rol de conceitos, leis e teorias de forma isolada, faz-se necessário refletir sobre a forma como a ciência interage com o mundo e suas circunstâncias históricas, ou seja, ensinar ciência é ensinar uma visão de mundo, uma possibilidade para isso é estabelecer uma relação entre arte e ciência. Nesse sentido o presente trabalho objetiva promover uma reflexão crítica sobre ciência a partir da leitura da obra literária “Frankenstein”, de autoria da escritora inglesa Mary Shelley, buscando dar condições ao leitor para construção de uma alfabetização científica. Nosso trabalho é qualitativo do tipo exploratório - interpretativo, pois está preocupado com a análise e a interpretação de uma obra literária de ficção científica. Por meio da análise da obra é possível identificar e compreender as correntes de pensamento da época, a corrente "organicista" ou "vitalista" e a corrente mecaniscista; é possível ainda perceber que implicitamente a autora da obra apresenta uma crítica a forma de pensar a vida proposta pela corrente mecanicista - para isto utiliza-se do conceito de vida proposto pelos vitalistas e, a centelha de vida se faz representada nesse contexto pelo conhecimento físico da eletricidade da época.
Downloads
Referências
ALONSO-GOLDARB, A. M. Da alquimia à química. 3ª Ed. São Paulo: Landy, 2001.
BORGES, R. M. R., Em debate: cientificidade e educação em ciência. 2ed.- Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências:
fundamentos e métodos. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2009.
DURÃO, F. A. Reflexões sobre a metodologia de pesquisa nos estudos literários. DELTA vol.31 no.spe São Paulo ago. 2015. p. 377-390.
MARTIN-DIAZ, M. J. et al. Science fiction comes into the classroom: maelstrom II. Phys. Educ., v. 27, 1992. p. 18-23.
FIGUEIREDO, G. G. Frankeinstein: romantismo, filosofia e ciência ao fim do século XVIII e início do século XIX. Trabalho de conclusão de curso, departamento de história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.
GUINSBURG, J. O romantismo. Coleção Stylus. 3ª Ed. Editora Perspectiva, 1993.
MAISON, S. F. História da ciência: as principais correntes do pensamento científico. 1ª ed., Porto Alegre: Ed. Globo S.A., 1962.
PIASSI, L. P., PIETROCOLA, M. Ficção científica e ensino de ciências: para além do método de ‘encontrar erros em filmes’. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.35, n.3, p. 525-540, set./dez. 2009.
PIASSI, L. P.,GOMES, E. F., RAMOS, J. E. F., Literatura e cinema no ensino de Física: interfaces entre a ciência e a fantasia. 1ed. - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017.
SASSERON; L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p.59-77, 2011.
SHAMOS, M. H. The myth of scientific literacy. New Brunswick: Rutgers University Press, 1995.
SHELLEY, M. Frankenstein ou o Prometeu moderno. Tradução Adriana Lisboa 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
SHELLEY, M. Frankenstein. Mineola: Dover Publications Inc., 1994. Print.
TURNEY, Jon. Resposta popular à ciência e à tecnologia: ficção e o fator frankenstein. In: MASSARANI, Luisa; TURNEY, Jon; MOREIRA, Ildeu de Castro (Org.). Terra incógnita. A interface entre ciência e público, Rio de Janeiro: Vieira & Lente: UFRJ, Casa da ciência: FIOCRUZ, 2005. p. 99-114.
YUNES, E. Análise e interpretaçãoı de obras literárias: Obstáculos entre obras e leitor? Perspectiva; CED, Florianópolis, 3(6). 68-74 Jan./Jun. 1986
ZANETIC, J. Física e Cultura. Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, v. 57, n.3, jul/set. 2005. p.21-4.
ZANETIC, J. Física e Literatura: construindo uma ponte entre as duas culturas. História, Ciências, Saúde - Manguinhos. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz. v.13 (suplemento), out. 2006. p.55-70.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY ): são permitidos o acompartilhamento (cópia e distribuição do material em qualqer meio ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais.

Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.