THE EDUCATIONAL DISQUALIFICATION OF THE POOR IN FACE OF SOCIAL INEQUALITIES IN BRAZIL
Abstract
The distances between the poor and the rich become increasingly sharp in Brazil, this is evidenced by social inequalities. The paradoxes that exist between theories about poverty and its indicators, the education of the poor and social inequalities lead people to make educational choices based on the economic dimension, which highlights social inequalities and prejudice against the poor. Thus, social segregations based on inequalities of origin are perpetuated. In this context, this paper reflects on the education of the poor, under the aegis of social inequalities, as a form of educational disqualification. It clarifies the polysemic concepts about poverty and the indicators that denounce social inequalities in Brazil. It is a bibliographic and documentary study based on national and international organizations, in which it is inferred that poverty seen only from socioeconomic aspects intensifies the neoliberal purposes in feeding the culture of poverty. Finally, education that targets the poor runs the risk of delivering to society a person who meets the expectations of the labor “market”, even though in a disqualified manner. Which unfortunately ratifies a poor school model for the poor.
Downloads
References
Brasil. (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira – 2010. (Estudos e Pesquisas: informação demográfica e socioeconômica; n. 27). Rio de Janeiro. Recuperado em 21 março, 2020, de http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf.
Brasil. (2011, 2 de maio). Nota do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O perfil da extrema pobreza no Brasil com base nos dados preliminares do universo do Censo 2010. Brasília. Recuperado em 14 abril, 2020, de
Brasil. (2017a). Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Recuperado em 21 abril, 2020, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm.
Brasil. (2017b). Ministério da Educação. Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017. Recuperado em 20 abril, 2020, de http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc.
Brasil. (2018a). Ministério da Educação. Resolução CNE n. 4, de 17 de dezembro de 2018. Recuperado em 21 abril, 2020, de http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640296.
Brasil. (2018b). Decreto n. 9.396, de 30 de maio de 2018. Recuperado em 22 abril, 2020, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9396.htm.
Brasil. (2019a). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. 2018 - Rendimento de todas as fontes. Brasília. Recuperado em 21 abril, de https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/rendimento-despesa-e-consumo/17270-pnad-continua.html?edicao=26413&t=downloads.
Brasil. (2019b). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019. Coordenação de População e Indicadores Sociais. (Estudos e Pesquisas Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 40). Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado em 21 abril, 2020, de https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf.
Brasil. (2020). Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb): 2019. Recuperado em 8 novembro, 2020, de https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb.
Corti, A. P. (2019). Ensino médio: entre a deriva e o naufrágio. In Cássio, F. (Org.). Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. (Coleção Tinta Vermelha, pp. 47-52). São Paulo: Boitempo.
Castel, R. (1997). A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade a “desfiliação”. Caderno CRH, (26/27), 19-40.
Castel, R. (2010). As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. (9a ed.). Petrópolis: Vozes.
Charlot, B. (2013). A mistificação pedagógica: realidades sociais e processos ideológicos na teoria da educação. (Coleção Docência em Formação: Saberes Pedagógicos). São Paulo: Cortez.
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. (Colección Paidós Estado y Sociedad). Paidós: Barcelona.
Creswell, J. W. (2016). Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. (3a ed.). (Coleção Métodos de Pesquisa). Porto Alegre: Artmed.
Decker, A., & Evangelista, O. (2019). Educação na lógica do Banco Mundial: formação para a sociabilidade capitalista. Roteiro. v. 44(3), 1-24. Recuperado em 11 maio, 2020, de https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/23206.
Diniz, M. B., & Diniz, M. M. (2009). Um indicador comparativo de pobreza multidimensional a partir de objetivos do desenvolvimento do milênio. Economia Aplicada. (13)3, 399-423.
Dubet, F. (2003). Desigualdades multiplicadas. Ijuí: Ed. UNIJUÍ.
Dubet, F. (2016). ¿Por qué preferimos la desigualdad? (Aunque digamos lo contrario). (2a ed.). (Colección Sociología y Política). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Frigotto, G. (2005). Escola pública brasileira na atualidade: lições de História. In Lombardi, J. C., Saviani, D., & Nascimento, M. I. M. (Org.). A escola pública no Brasil: História e historiografia. (Coleção Memória da Educação, pp. 221-254). Campinas: Autores Associados; HISTEDBR.
Furtado, C. S. do V. (2011). Classificação dos pobres: questões, construção e análise. Sociologias, (13)26, 306-330.
Geremek, B. (1986). A piedade e a forca: História da miséria e da caridade na Europa. Lisboa: Terramar Editores.
Geremek, B. (1995). Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis na literatura europeia – 1400-1700. São Paulo: Companhia das Letras.
Girotto, E. D., & Cássio, F. L. (2018). A desigualdade é a meta: implicações socioespaciais do Programa Ensino Integral na cidade de São Paulo. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, (26)109, 1-28.
Kowarick, L. (2003). Sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. Estados Unidos, França e Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, (18)51, 61-85.
Lewis, O. (1969). La vida. Une famille porto-ricaine dans une culture de pauvreté: San Juan et New York. (Collection Témoins Gallimard). Paris: Édition Gallimard.
Lewis, O. (2009). Antropología de la pobreza: cinco familias. (20a ed.). (Sección de Obras de Antropología). México: Fondo de Cultura Económica.
Lomnitz, L. A. de. (2006). Cómo sobreviven los marginados. (16a ed.). México: Siglo XXI Editores.
Merle, P. (2009). La démocratisation de l’enseignement. Paris: La Découverte.
Mollat, M. (1989). Os pobres na Idade Média. Rio de Janeiro: Campus.
Organização das Nações Unidas (ONU). (1990). Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de Aprendizagens. Jomtien, Tailândia. Recuperado em 3 abril, 2020, de https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990.
Organização das Nações Unidas (ONU). (2000). Declaração do Milênio das Nações Unidas. Recuperado em 11 abril, 2020, de http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf.
Organização das Nações Unidas (ONU). (2015). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Recuperado em 21 abril, 2020, de https://nacoesunidas.org/pos2015/.
Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI); United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Global Multidimensional Poverty Index 2019: Illuminating Inequalities. Recuperado em 21 abril, 2020, de https://ophi.org.uk/global-multidimensional-poverty-index-2019-illuminating-inequalities/.
Pereira, P. A. (2011). Política Social: temas & questões. (3a ed.). São Paulo: Cortez.
Paugam, S. (1996). L’exclusion: État des savoirs. Paris: La Découverte.
Paugam, S. (2003). A desqualificação social: ensaio sobre a nova pobreza. São Paulo: Educ; Cortez.
Pontes, D. F. (2020). A atuação e expansão da empresa Kroton educacional na Educação Básica. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). (2010). Relatório de Desenvolvimento Humano 2010. A verdadeira riqueza das nações: vias para o desenvolvimento humano. [Edição do 20o Aniversário]. Recuperado em 21 abril, 2020, de https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-2010.html.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). (2019). Relatório de Desenvolvimento Humano 2019. Além da renda, além das médias, além do hoje: desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI. Recuperado em 11 de abril, 2020, de https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/pnud-apresenta-relatorio-de-desenvolvimento-humano-2019-com-dado.html.
Santos, M. (2010). Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. (19a ed.). Rio de Janeiro: Record.
Schwarcz, L. M. (2019). Sobre o autoritarismo brasileiro. (3a reimp.). São Paulo: Companhia das Letras.
Silva, J. J. Da, Bruno, M. A. P., & Silva, D. B. do N. (2020). Pobreza multidimensional no Brasil: uma análise do período 2004-2015. Revista de Economia Política, (40)1, 138-160. Recuperado em 11 maio, 2020, de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572020000100138&lng=en&nrm=iso.
Sen, A. (2000). Desenvolvimento como liberdade. (5a reimp.). São Paulo: Companhia das Letras.
Soares, S. S. D. (2009, fevereiro). Metodologias para estabelecer a linha de pobreza: objetivas, subjetivas, relativas, multidimensionais. (Texto para discussão, n. 1.381). Rio de Janeiro: IPEA. Recuperado em 21 abril, 2020, de
Souza, J. (2018). Como é possível perceber o Brasil contemporâneo de modo novo? In Souza, J. A ralé brasileira: quem é e como vive. (A. Grillo, et al. col.). (3a ed., ampl., pp. 117-138). São Paulo: Contracorrente.
Spring, J. (2018). Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Campinas: Vide Editorial.
Copyright (c) 2022 Imagens da Educação

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
DECLARATION OF ORIGINALITY AND CESSATION OF COPYRIGHT
I Declare that current article is original and has not been submitted for publication, in part or in whole, to any other national or international journal. I also declare that once published in the Imagens da Educação, a publication of the IES (UEM, UEL, UFSM, Univali, Unioeste and UEPG), it will not be submitted by me or by any co-author to any other journal. In my name and in the name of co-authors, I shall cede the copyright of the above mentioned article to the Universidade Estadual de Maringá and I declare that I know that the non-observance of this norm may make me liable for the penalties contemplated in the Law for the Protection of Authors' Rights (Act 9609 of the 19th February 1998).













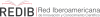

1.png)

