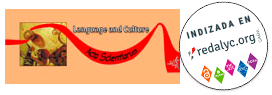Sobre (não) generificação e binarização de gênero no Brasil: documentos históricos e modos de vida ancestrais
Résumé
As ideologias linguísticas inscrevem representações variadas sobre as práticas linguísticas, como as funções, as normas, os valores, as expectativas, as preferências e os papéis e sujeitos envolvidos nessas práticas. Este artigo versa sobre a ideologia binarizada de gênero, bem como os interesses e valores manifestados em seu percurso histórico, que se materializam através de recursos semióticos e linguísticos. Objetiva-se explorar as ideologias linguísticas relacionadas à (não) generificação e binarização de gênero, considerando suas manifestações em documentos históricos e modos de vida ancestrais. Para tanto, os seguintes procedimentos metodológicos e analíticos são adotados: levantamento e análise de registros documentais dos séculos XVI, XVIII, XIX e XXI, a fim de identificar práticas coloniais e neocoloniais racistas e de repressão às expressões de gênero não binárias; breve descrição da organização social e a cosmogonia yorubás, para destacar a presença de uma linguagem não sexista e não binarizada, que exerce influência no contexto dos terreiros de candomblé brasileiros e; investigação da figura de Exu como orixá da comunicação que apresenta uma epistemologia não binária e que contribui para a formação de categorias identitárias. Assim, são acionados documentos e análise/observação de contexto religioso. Por meio da abordagem comparada dos documentos, discursos e contextos mencionados, foi possível identificar a construção do gênero como marcador social; a construção binária e hierarquizante de gênero social (masculino vs. feminino) e a invisibilização de formas não binárias em gênero e não generificadas no Brasil.
Téléchargements
Références
Referências
Almeida, R. H. (1997). O diretório dos índios: um projeto de “civilização” no Brasil do séc. XVIII. Brasília, DF: Ed. UnB.
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. (2020). Projeto de Lei 0356.4/2020. Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Florianópolis, SC.
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. (2020). Projeto de Lei 0357.5/2020. Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Florianópolis, SC.
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. (2020). Projeto de Lei 0369.9/2020. Estabelece o direito dos estudantes de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, e adota outras providências. Florianópolis, SC.
Barros, C., & Monserrat, R. (2019). Dilemas da evangelização em tupi na Amazônia na primeira metade do século XVIII: vernaculizar ou manter a tradição textual jesuítica? In R. Cerrón-Palomino, Á. E. Rivero & O. Zwartjes (Eds.), Lingüística misionera: aspectos lingüísticos, discursivos, filológicos y pedagógicos (p. 173-194). Lima, PE: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
Bastide, R. (1961). O candomblé da Bahia. São Paulo, SP: Companhia Editora Nacional.
Bauman, R., & Briggs, C. L. (2003). Voices of modernity: language ideologies and the politics of inequality. Cambridge, GB: Cambridge University Press.
Blommaert, J. (2006). Language policy and national identity. In T. Ricento (Ed.), An introduction to language policy (p. 238-254). Oxford, GB: Blackwell Publishing.
Borba, R., & Ostermann, A. C. (2008). Gênero ilimitado: a construção discursiva da identidade travesti através da manipulação do sistema de gênero gramatical. Estudos Feministas, 16(2), 409-432.
Brasil. (1890). Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal. Brasília, DF.
Brasil. (1934). Decreto nº 24.531, de 2 de julho de 1934. Aprova novo Regulamento para os serviços da Polícia Civil do Distrito Federal. Brasília, DF.
Butler, J. (2015). Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade (8a ed). Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira.
Camara Jr., J. M. (1970). Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis, RJ: Vozes.
Carvalho, D. S. (2020). As genitálias da gramática. Revista da ABRALIN, 19(1), 1-21. DOI: https://doi.org/10.25189/rabralin.v19i1.1693
Castro, Y. P. (1983). Das línguas africanas ao português brasileiro. Afro-Ásia, (14), 81-106.
Corbett, G. G. (1991). Gender. Cambridge, GB: Cambridge University Press.
Deumert, A. (2022). The sound of absent-presence: towards formulating a sociolinguistics of the spectre. Australian Review of Applied Linguistics, 45(2), 135-153. DOI: https://doi.org/10.1075/aral.21039.deu
Di Gregorio, M. A. (2002). Reflections of a nonpolitical naturalist: ernst haeckel, wilhelm bleek, friedrich müller and the meaning of language. Journal of the History of Biology, 35(1), 79-109. DOI: https://doi.org/10.1023/a:1014526629425
Freire, J. R. B. (2003). Da língua geral ao português: para uma história dos usos sociais das línguas na Amazônia (Tese de Doutorado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Freitag, R. M. K. (2022). Conflito de regras e dominância de gênero. In F. R. Barbosa Filho & G. Á. Othero (Orgs.), Linguagem “neutra”: língua e gênero em debate (p. 53-72). São Paulo, SP: Parábola Editorial.
Grosfoguel, R. (2016). A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. Sociedade e Estado, 31(1), 25-49.
Irvine, J. T. (1995). The family romance of colonial linguistics Gender and family in nineteenth-century representations of African languages. Pragmatics, 5(2), 139-153. DOI: https://doi.org/10.1075/prag.5.2.02irv
Irvine, J. T., & Gal, S. (2000). Language ideology and linguistic differentiation. In P. V. Kroskrity (Ed.), Regimes of language: ideologies, polities, and identities (p. 35-84). Santa Fe, MX: School of American Research Press.
Lopes, N. (2011). Enciclopédia brasileira da diáspora africana (rev. e ampl., 4a ed). São Paulo, SP: Selo Negro.
Lopes, N. (1999). 171-Lapa-Irajá: casos e enredos do samba. Rio de Janeiro, RJ: Folha Seca.
Mäder, G. R. C., & Severo, C. G. (2016). Sexismo e políticas linguísticas de gênero. In R. M. K. Freitag, C. G. Severo, E. M. Görski (Orgs.), Sociolinguística e política linguística: olhares contemporâneos (v. 1, p. 245-260). São Paulo, SP: Blucher.
Maggie, Y. (1992). Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Arquivo Nacional.
Makoni, S., & Pennycook, A. (2009). Disinventing and (re)constituting languages. Critical Inquiry in Language Studies, 2(3), 137-156. DOI: https://doi.org/10.1207/s15427595cils0203_1
Mott, L. (1992). Relações raciais entre homossexuais no Brasil colonial. Revista de Antropologia, 35, 169-190. DOI: https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.1992.111359
Mott, L. R. B. (1999). Homossexuais da Bahia: dicionário biográfico (séculos XVI-XIX). Salvador, BA: Grupo Gay da Bahia.
Ogundipe, A. (1978). Esu Elegbara: The Yoruba God of Chance and Uncertainty: A Study in Yoruba Mythology. [Doctoral thesis]. Indiana University.
Oyěwùmí, O. (2021). A invenção das mulheres – Construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. Rio de Janeiro, RJ: Bazar do Tempo.
Pedrotti, A. S. (2022). Linguista Exu e não binariedade: desestabilizações de gênero na língua (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Preciado, P. B. (2014). Manifesto contrassexual. São Paulo, SP: n-1 edições.
Rufino, L. (2019). Pedagogia das encruzilhadas. Rio de Janeiro, RJ: Mórula.
Santos, J. E., & Santos, D. M. (2014). Èṣù. Salvador, BA: Corrupio.
Severo, C. G. (2015). Língua portuguesa como invenção histórica:brasilidade, africanidade e poder em tela. Working Papers em Linguística, 16(2), 35-61. DOI: https://doi.org/10.5007/1984-8420.2015v16n2p35
Severo, C. G., & Makoni, S. B. (2014). Discourses of language in colonial and postcolonial Brazil. Language & Communication, 34, 95-104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langcom.2013.08.008
Simas, L. A., & Rufino, L. (2018). Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro, RJ: Mórula.
Spivak, G. C. (1994). Can the subaltern speak? In P. Williams & L. Chrisman (Eds.), Colonial discourse and post-colonial theory: a reader (p. 66-111). New York, NY: Columbia University Press.
Stengers, I. (2010). Cosmopolitics I. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Vainfas, R. (1990). Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira.
Woolard, K. A. (1998). Introduction: language ideology as a field of inquiry. In B. B. Schieffelin, K. A. Woolard, P. V. Kroskrity (Eds.), Language ideologies: practice and theory (p. 3-48). New York, NY: Oxford Academic.
Yusuf, K. (1989). English imposed sexism in yoruba language: the case of 'baby' and 'aya'. Women and Language, 12(2), 27-30.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o acompartilhamento (cópia e distribuição do material em qualqer meio ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais.
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.




















6.png)