PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN BASE A UNA VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS MATA ATLÁNTICOS
Resumen
La investigación destacó el potencial educativo del Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) como un espacio para la educación no formal e investigó posibles aportes de las visitas mediadas a la formación del concepto ambiental de los estudiantes de 6º de Primaria en la EMEF. Profesor Ethevaldo Damázio. Es una investigación cualitativa cuyos datos fueron recolectados a través de un guión, diario de campo, registros fotográficos y cuestionarios. El acercamiento a los datos se realizó desde la perspectiva del análisis de contenido. Una de las potencialidades del INMA señaladas en este estudio se refiere a la formación de la concepción del medio ambiente, que impacta directamente en la enseñanza de las Ciencias. Al señalar algunas potencialidades, este estudio colabora para mostrar una manera de fortalecer la relación museo-escuela y, de esta manera, brindar subsidios de manera efectiva para la expansión de perspectivas y perspectivas sobre temas centrales en el currículo de educación científica
Descargas
Citas
Bardin, Laurence. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70.
Bizerra, A. F.; Marandino, M. (2009). A concepção de aprendizagem nas pesquisas em educação em museus. In Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis-SC.
Bondia, J. L. (2002). Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, (19), 20-28.
Brasil. Ministério da Educação. (1997). Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): meio ambiente, saúde. Brasília: MEC/SEF.
Camacho, G. S.; Custódio, L. N. & Oliveira, R. C. (2013). “Roda das sensações”: uma atividade interativa com plantas no museu. Em Extensão, 12(1), 77-88.
Chizzotti, A. (1998). Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez.
Constantino, N. R. T. (2010). Jardins educativos e terapêuticos como fatores de qualidade de vida urbana. In Resumos do Congresso Luso-brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado, Sustentável. Faro, Portugal.
Dayrell, Juarez T. A. (1996). A escola como espaço sociocultural. In: Dayrell, J. (Org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG.
Falk, J.H., Dierkling, L.D. (Ed.). (1995). Public institutions for personal learning: establishing a research agenda. Washington: American Alliance of Museums.
Ferraro, L. A., Mendonça, P., Sorrentino, M. & Trajber, R. (2005). Educação Ambiental como política pública. Educação e Pesquisa, 31(2), 285-299.
Ferreira, A. B. H. (2008). Aurélio: minidicionário da língua portuguesa. Curitiba: Ed. Positivo.
Freire, P. (2013). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Goldsmith, A. I. et al. (2008). A importância do lúdico e dos sentidos sensoriais humanos na aprendizagem do meio ambiente. In Trabalhos publicados do XIII Seminário Internacional de Educação – Indisciplina e Violência na Escola: Cenários e Direções. Rio Grande do Sul.
Gouvêa, G., Valente, M. E., Cazelli, S., Marandino, M. (2001). Redes cotidianas de conhecimento e os museus de ciência. Parcerias Estratégicas, 6 (11), 1-6.
Heerdt, B. & Motta, R. A. (2016). Educação ambiental e meio ambiente: noções de professores. Revista Ensino & Pesquisa, 14(2), 177-196.
Inocêncio, A. F. (2012). Educação ambiental e educação não formal: um estudo de caso na perspectiva de um museu interdisciplinar. In Anais do Seminário de Pesquisa e Educação da Região Sul, IX. (IX ANPED SUL). Caxias do Sul, RS.
Instituto Brasileiro de Museus. (2017). Os Museus. Portal do Instituto Brasileiro de Museus. Brasília: Ibram.
Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). O Instituto. Disponível em:
Jacobucci, D. F. C. (2008). Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. Em Extensão, 7(1), 55-66.
Lobino, M. G. F. (2014). A práxis ambiental educativa: diálogo entre diferentes saberes. Vitória: EDUFES.
Loureiro, C. F. B. (2004). Educar, participar e transformar em educação ambiental. Revista Brasileira de Educação Ambiental, 0(0), 13-20.
Loureiro, C. F. B. (2007). Educação ambiental crítica: contribuições e desafios. In: Mello, S. & Trajber, R. (Org.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental. Brasília: MEC/UNESCO.
Ludke, M.; André, Marli E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU.
Marandino, M. (2000). Museu e escola: parceiros na educação científica do cidadão. In: Candau, V. M. F. (org) Reinventar a Escola. Petrópolis: Vozes.
Marandino, M. (2001). Interfaces na relação museu-escola. Caderno Catarinense de Física, 18(1), 85-100.
Morin, E. (1997). O método: a natureza da natureza. Lisboa: Publicações Europa-América.
Morin, E. (2003). Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Mortimer, E. F. (2000). Linguagem e formação de conceitos no ensino de Ciências. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
ONU (Organização das Nações Unidas) (2015). Objetivos do Desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs Acesso em: 24/06/21
Reigot, M. (2002). Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez.
Rocha, L. M. G. M. & Britto, Y. L. O. (2009). Jardim sensorial: qual o limite de seus sentidos? Montevidéu: Spacio Ciencia LATU.
Ruschi, A. (1979). Número especial comemorativo do XXX aniversário. Boletim do Museu de Biologia Professor Mello Leitão (26-6-1949 a 26-6-1979). Santa Teresa-ES: MBPML.
Silva, M. A. J. (2006). Aprender para a vida ou para o vestibular? O alfabetismo científico e a construção social de conceitos biológicos entre estudantes de Cursos Pré-Vestibulares Comunitários (Tese de Doutorado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: PUC-Rio.
Stuchi, A. M. & Ferreira, N. C. (2003). Análise de uma exposição científica e proposta de intervenção. Revista Brasileira de Ensino de Física, 25(2), 207-217.
Tuan, Yi-Fu. (1980). Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: Difel.
Viegas, A. (2002). A educação ambiental nos contextos escolares: para além da limitação compreensiva e da incapacidade discursiva (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal Fluminense, Niterói: UFF.
Vieira, V., Bianconi, M. L. & Dias, M. (2005). Espaços não formais de ensino e o currículo de Ciências. Ciência e Cultura, 57(4), 21-23.
Vygotsky, L. (1997). Educational psychology. Boca Raton: St. Lucie Press.
Vygotsky, L (1998). A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes.
Derechos de autor 2022 Imagens da Educação

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0.
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez publicado na revista Imagens da Educação,ele não será submetido por mim ou pelos demais co-autores a outro periódico. Por meio deste instrumento, em meu nome e dos co-autores, cedo os direitos autorais do referido artigo à Revista e declaro estar ciente de que a não observância deste compromisso submeterá o infrator a sanções e penas previstas na Lei de Proteção de Direitos Autorias (Nº 9609, de 19/02/98).



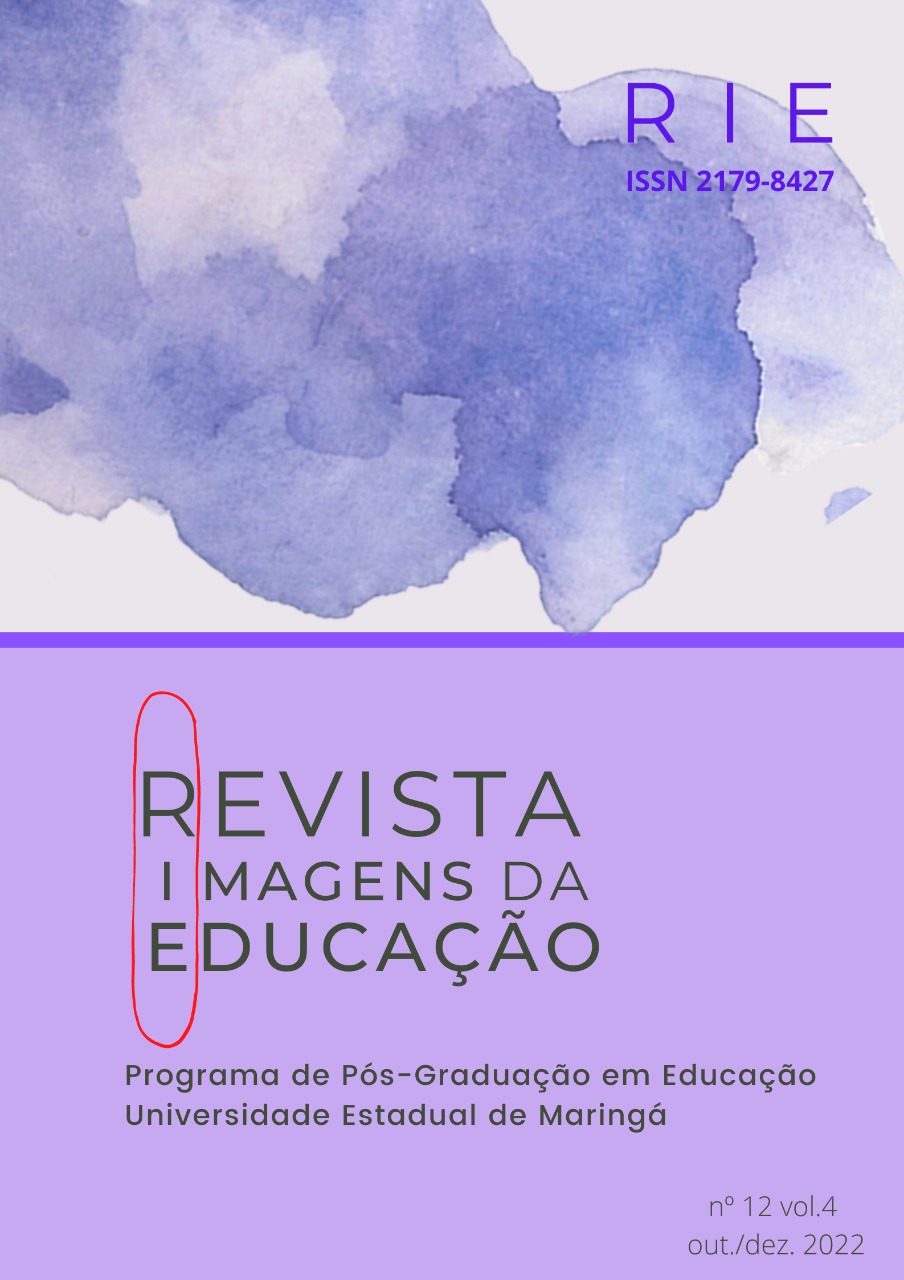









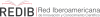

1.png)

