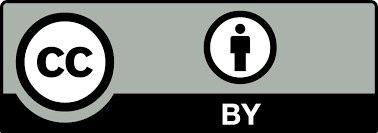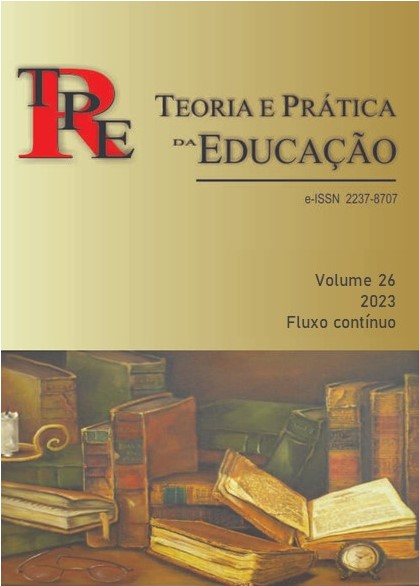A SUBSTITUIÇÃO DE VALORES NAS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
Resumo
O objetivo, neste artigo, é analisar a substituição de valores de viés econômico por valores enunciados humanitários. A análise materialista histórica dos documentos de políticas para a Educação Básica, a partir da década de 1990, torna evidente que a gênese e a função social dos valores então apregoados advêm da atividade teleologicamente orientada pelo entendimento de que a subjetividade e a objetividade compõem uma relação, pois são partes integrantes da totalidade social. Dessa perspectiva, concluímos que a adoção de valores humanitários na educação, sob o signo da reestruturação produtiva e das orientações políticas neoliberais para o enfrentamento das desigualdades econômicas, corresponde a uma estratégia para promover a coesão social e estimular a participação da sociedade civil na resolução de problemas sociais. A finalidade seria tornar os indivíduos e grupos ou a comunidade menos dependentes das políticas públicas do Estado.
Downloads
Referências
Alcântara, N. (2014). Lukács: ontologia e alienação. São Paulo: Instituto Lukács.
Banco Mundial. (2019). Relatório de Desenvolvimento Mundial 2019: a mudança da natureza do trabalho.
Batista Jr., P. N. (1994). O consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas latino-americanos.
Brasil. (2018). Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Ministério da educação.
Brasil. (2013). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Senado Federal, Brasília: secretária especial de informática.
Brasil. (2013). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI.
Brasil. (1998a). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Ministério da Educação e do Desporto Conselho Nacional de Educação. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Brasil. (1998b). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Ministério da Educação e do Desporto Conselho Nacional de Educação. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Brasil. (1996a). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 5. ed.
Brasil. (2014). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
Brasil. (1998a). Lei nº 9. 637, de 15 de maio de 1998.. Presidência da República, Brasília, 15 maio 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm>. Acesso em: 15 ago. 2018.
Brasil. (1997). Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. A Reforma do aparelho do estado e as mudanças constitucionais: síntese & respostas as dúvidas mais comuns. Brasília: MARE. Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno06.pdf. Acesso em: 08 fev. 2018.
Brasil. (1998b). Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Organizações sociais. Brasília: MARE. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/OS/caderno2.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017.
Brasil. (2010). Ministério da Educação. Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Brasil. (2001). Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010. Brasília: Senado Federal, UNESCO.
Brasil. (1996c). Uma estratégia de desenvolvimento social. Brasília: Presidência da República.
Bresser-Pereira, L. C. (2007). A nova esquerda: uma visão a partir do sul. In: GIDDENS, A. O debate global sobre a terceira via. Tradução de Roger Maioli dos Santos, São Paulo: Editora UNESP, p. 497-538.
Bresser-Pereira, L. C. (1995). Reforma Gerencial do Estado. São Paulo, 1995.
Carvalho, E. J. G. (2017). A Educação Básica Brasileira: e as novas relações entre o Estado e os empresários. Revista Retratos da Escola. Brasília, v. 11, n. 21, p. 525-541.
Carvalho, E. J. G. (2016). A educação em face das novas formas de sociabilidade. Revista Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, v. 24, n. 2, p. 79-99.
Carvalho, E. J. G. (2020). Democratização e privatização: Uma relação possível na gestão da Educação Básica pública? Maringá: Eduem.
Carvalho, E. J. G.; Garcia, J. D. A. (2016). "Educação para a cidadania ativa" como estratégia contemporânea do programa neoliberal da terceira via. Revista Teoria e Prática da Educação, v. 19, n. 3, p. 61-78.
Costa, G. M. (2012). Indivíduo e sociedade: sobre a teoria de personalidade em Georg Lukács. 2. ed. São Paulo: Instituto Lukács.
Dardot, P.; Laval, C. (2016). A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo.
Delors, J. (Org.). (1998). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. São Paulo: Cortez.
Evangelista, O. (2008). Apontamentos para o trabalho com documentos de política educacional. Caros Amigos, ano XII, n. 136, jun. Disponível em: <http://moodle3.nead.uem.br/pluginfile.php/30539/mod_resource/content/1/Olinda%20Evangelista%20-%20Apontamentos.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018.
Faustino, R. C., Carvalho, E. J. G. (2014); Política Educacional nos anos de 1990 e minorias étnicas: o projeto da diversidade. Revista Teoria e Prática da Educação, vol. 17, n. 1, p. 37-52.
Giddens, A. (2005). A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. 5. ed., Rio de Janeiro: Record.
Giddens, A. (2001). A terceira via e seus críticos. Tradução de Ryta Vinagre, Rio de Janeiro: Record.
Groppo, L. A.; Martins, M. F. (2008). Terceira Via e políticas educacionais: um novo mantra para a educação. RBPAE – v.24, n.2, p. 215-233.
Harvey, D. (2012). Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves, 22. ed. São Paulo: Edições Loyola.
Harvey, D. (2011). O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitempo.
Harvey, D. (2000). Condição pós-moderna. 9. ed., São Paulo: Edições Loyola.
Hayek, F. A. V. (2010). O caminho da servidão. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil.
Hirsch, J. (2010). Teoria Materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista. Rio de Janeiro, Revan.
Lessa, S. (2012). Mundo dos homens: trabalho e ser social. 3. ed. São Paulo: Instituto Lukács.
Lessa, S. (2015). Lukács: Ética e Política: Observações acerca dos fundamentos ontológicos da ética e da política. São Paulo: Instituto Lukács, 2ª ed.
Lima, M. F. De; Jimenez, S. V. (2011). O complexo da educação em Lukács: uma análise à luz das categorias trabalho e reprodução social. Belo Horizonte. v. 27, n. 02, ago. 2, p. 73-94.
Lima, K. R. S.; Martins, A. S. (2005). Pressupostos, princípios e estratégias. In: Neves, L. M. W. (Org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo, Xamã, 2005, p.43-67.
Luiz, J. M. M. (2017). Políticas Públicas para a Educação Básica nos anos de 1990: redefinição de valores para a formação humana, 212 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR.
Lukács, G. (1986). O trabalho. In: Lukács, G. Para uma ontologia do ser social. Tradução de Ivo Tonet, cap. 1, tomo II. Alagoas, Universidade Federal de Alagoas.
Martins, A. S. (2007). Burguesia e a nova sociabilidade: estratégias para educar o consenso no Brasil contemporâneo. 2007, 284 f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal Fluminense, Niterói- RJ.
Marx, K. (1996). O Capital: crítica da economia política. Livro primeiro: o processo de produção do capital, tomo 1. Tradução de Regis Barbosa e Flávio. Kothe, São Paulo: Nova Cultura.
Marx, K. (2013). O Capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo.
Melo, A. A. S. (2005). Os organismos internacionais na condução de um novo bloco histórico. In: Neves, L. M. W. (org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, p. 69-82.
Netto, J. P. (2012). Crise do capital e consequências societárias. Serv. Soc., São Paulo, n. 111, p. 413-429.
Netto, J. P; Braz, M. (2011). Economia Política: uma introdução crítica. 7ª ed., São Paulo: Cortez.
Onu. (2000). Declaração do Milênio. Cimeira do Milênio. Nova Iorque.
Onu. (2015). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Oit. (2019). Trabalhar para um futuro mais brilhante: comissão global sobre o futuro do trabalho. Organização internacional do trabalho – Genebra, OIT.
Oxfam. (2020). Tempo de cuidar: O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade.
Saviani. D. (1995). Pedagogia Histórico-crítica. 5 ed. Campinas, SP: Autores Associados.
Shiroma, E. O.; Campos, R. F.; Garcia, R. M. C. (2005). Decifrar textos para compreender a política: subsídios teórico-metodológicos para análise de documentos. Rev. Perspectiva, Florianópolis, v. 23, n. 02, p. 427-446.
Tonet, I. (2013a). Educação, Cidadania e Emancipação Humana. 2. ed. Maceió: EDUFAL.
Tonet, I. (2007). Educação contra o capital. Maceió: EDUFAL.
Tonet, I. (2013b). Método científico: uma abordagem ontológica. São Paulo: Instituto Lukács.
Unesco. (1995). Declaração e Plano de Ação Integrado sobre a Educação para a Paz, os Direitos Humanos e a Democracia. Brasília: UNESCO.
Unesco. (1998). Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 1990. Jomtien, Tailândia.
Unesco. (2001). Educação para Todos: o compromisso de Dakar. Dakar, Senegal, 2. Ed.
Copyright (c) 2023 Teoria e Prática da Educação

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a) Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à Revista Teoria e Pratica da Educação o direito de primeira publicação
b) Esta revista proporciona acesso público a todo o seu conteúdo, uma vez que isso permite uma maior visibilidade e alcance dos artigos e resenhas publicados.