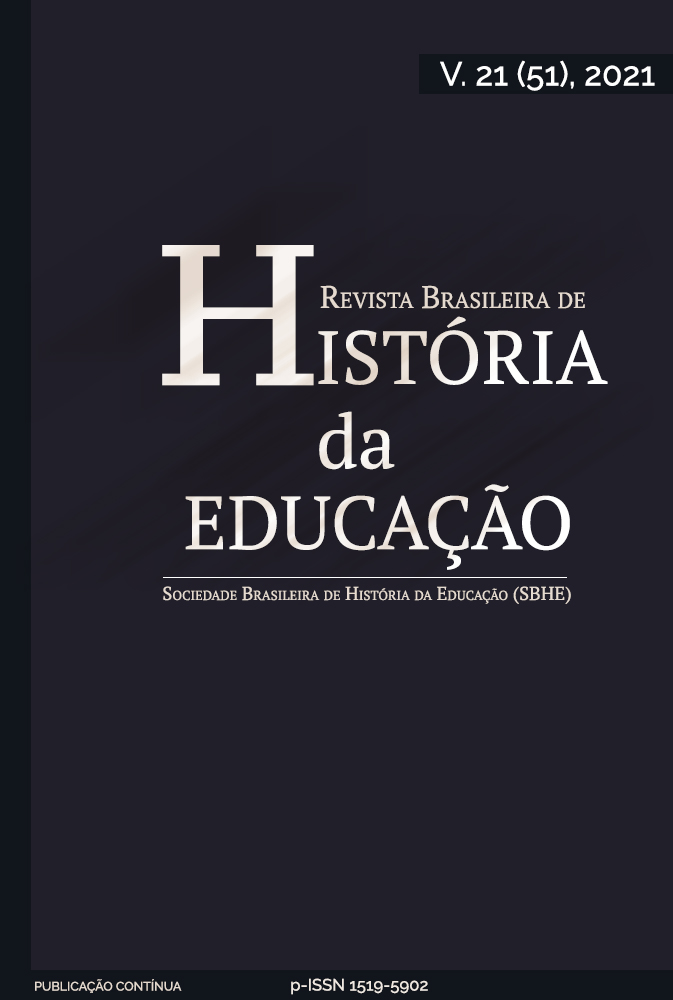La realidad del estudiante como una tradición pedagógica en disputa en la geografía escolar (1920-2020)
Resumen
El artículo analiza, a partir de materiales didácticos y documentos curriculares seleccionados de los últimos 100 años (1920/2020), la dimensión pedagógica de la realidad del estudiante como elemento primario en la enseñanza de la geografía a lo largo de su historia. Entendemos la realidad del estudiante como un discurso cuyo significado está en disputa por diferentes concepciones de la enseñanza de la Geografía. Como consecuencia, demarcamos cuatro momentos destacados de la disciplina en el Brasil: la hegemonización de la Geografía Escolar moderna y la realidad del estudiante como parte de la renovación de la enseñanza; la dimensión de lo real en la temporalidad de los estudios sociales; la renovación crítica basada en las teorías del aprendizaje y la noción de totalidad para la aprehensión de lo real; el análisis de los principios geográficos en el contexto de la BNCC y la realidad según la espacialidad del fenómeno. Así, argumentamos que el sentido de la realidad del estudiante transita por los momentos políticos y epistemológicos de la Geografía Escolar.
Descargas
Citas
Alderoqui, S. (2006). Enseñar a pensar laciudad. In S. Alderoqui & P. Penchansky (Comps), Ciudad y ciudadanos: aportes para la enseñanza del mundo urbano (p. 1-238). Buenos Aires: Paidós.
Angerami, P. L. (2017). Uma reconstituição da filosofia educacional de John Dewey. Revista Brasileira de História da Educação, 17(4[47]), 23-53. Recuperado de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/40700
Brasil. Ministério da Educação. (2017). Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF.
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. (1997). Parâmetros curriculares nacionais: história, geografia. Brasília, DF.
Callai, H. C. (1998). O ensino de geografia: recortes espaciais para análise. In A. C. Castrogiovanni, H. C. Callai, N. O. Schaffer & N. A. Kaercher (Orgs.), Geografia em sala de aula: práticas e reflexões (p. 57-63). Porto Alegre, RS: AGB, Seção Porto Alegre.
Carvalho, C. M. D. (1957). Geografia humana e econômica. São Paulo, SP: Editora Companhia Nacional, 1957.
Carvalho, D. (1925). Methodologia do ensino geographico: introdução aos estudos de geografia moderna. Petrópolis, RJ: Typografia das Vozes de Petrópolis.
Castellar, S. V. (2005). Educação geográfica: a psicogenética e o conhecimento escolar. Cadernos Cedes, 25(66), 209-225.
Cavalcanti, L. S. (2005). Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de Geografia. Cadernos Cedes, 25(66), 185-207.
Cavalcanti, L. S. (2011). Ensinar geografia para a autonomia do pensamento: o desafio de superar dualismos pelo pensamento teórico crítico. Revista da ANPEGE, 7(1), 193-203.
Cavalcanti, L. S. (2016). O ensino de geografia na escola. Campinas, SP: Papirus.
Campos, R. R. (2012). Breve histórico do pensamento geográfico brasileiro nos séculos XIX e XX. Jundiaí, SP: Paco Editorial.
Cunha, M. V. (2012). O “Manifesto dos Pioneiros” de 1932 e a cultura universitária brasileira: razão e paixões. Revista Brasileira De História Da Educação, 8(2 [17]), 123-140. Recuperado de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38580
Decreto de Lei nº 18.890, de 18 de abril de 1931. (1931, 31 de julho). Que expede os programas, as orientações pedagógicas e a carga horária do curso fundamental do ensino secundário. Diário Oficial da União, ano LXX, n. 179. Seção 2, parte 3, p. 12411-12412.
Recuperado de: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/2029952/pg-11-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-31-07-1931
Ferraz, C. B. O. (1994). O discurso geográfico: a obra de Delgado de Carvalho no contexto da geografia brasileira - 1913 a 1942 (Dissertação de Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Girotto, E. D. (2017). Concepções de ensino de geografia nas primeiras décadas do século XX no Brasil e na Argentina. Revista Brasileira de Educação em Geografia, 7(14), 44-66.
Gonçalves, A. R. (2006). Os espaços-tempos cotidianos na Geografia escolar: do currículo oficial e do currículo praticado (Tese de Doutorado). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro.
Guilherme, W. D., & Santos, S. M. (2019). O Conselho Nacional de Educação: 1931 a 1936. Revista Brasileira de História da Educação, 19, e053. Recuperado de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/44072
Kuhn, M., Callai, H. C., & Toso, C. E. I. (2019). Pressupostos epistemológicos dos círculos concêntricos. Revista e-Curriculum, 17(2), 472-491. doi: https://doi.org/10.23925/1809-3876.2019v17i2p472-491
Laclau, E. (2013). A razão populista. São Paulo, SP: Três Estrelas.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (1996, 23 de dezembro). Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União.
Martins, M. C. (1998). A CENP e a criação do currículo de história: a descontinuidade de um projeto educacional. Revista Brasileira de História, (18), 39-59.
Oliveira, A. U. (1994). Ensino de Geografia: horizontes no final do século. Boletim Paulista de Geografia, (72), 3-27.
Pontuschka, N., Paganelli, T. I., & Cacete, N. H. (2009). Para ensinar a aprender geografia (3a ed.). São Paulo, SP: Cortez.
Santos, M. (1994). Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico científico informacional. São Paulo, SP: Hucitec.
São Paulo. Secretaria da Educação. CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. (1988). Proposta curricular para o ensino de geografia no primeiro grau (4a ed.). São Paulo, SP.
Silva, G. B. (2003). Educação e desenvolvimento nacional. Revista Brasileira de História da Educação, 3(2[6]), 177-216. Recuperado de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38700
Soares, J. C. (2017). Aspectos da crise do Programa Institucional no Colégio Pedro II (1931-1945). Revista Brasileira de História da Educação, 17(4[47]), 224 - 255. Recuperado de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/40690
Souza, V. C. (2011). Fundamentos teóricos, epistemológicos e didáticos no ensino da Geografia: bases para formação do pensamento espacial crítico. Revista Brasileira de Educação em Geografia, 1(1), 47-67.
Straforini, R. (2004). Ensinar geografia: o desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais (1a ed.). São Paulo, SP: Annablume.
Straforini, R. (2018). Ensino de geografia nos anos iniciais: alteridade e anacronismos discursivos. In A. Garcia de la Vega (Org.), Reflexiones sobre educación geográfica: revisión disciplinar e innovación didáctica (1a ed., p. 217-234) Madrid, ES: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid.
Vesentini, J. W. (2004). O ensino de geografia no século XXI (3a ed.). Campinas, SP: Papirus.
Viñao, A. (2012). A história das disciplinas escolares. Revista Brasileira de História da Educação, 8(3[18]), 173-215. Recuperado de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/40818
Vlach, V. R. F. (1988). A propósito do ensino de geografia: em questão, o nacionalismo patriótico (Dissertação de mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Zanatta, B. (2013). Contribuições da filosofia educacional de John Dewey para a geografia escolar brasileira. Revista Educativa, 16(1), 47-64.
Derechos de autor 2021 Thiago Manhães Cabral, Jéssica Rodrigues da Silva Cecim, Rafael Straforini (Autor)

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico consistem na licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o acompartilhamento (cópia e distribuição do material em qualqer meio ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado) para quaisquer fins, inclusive comerciais.
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.