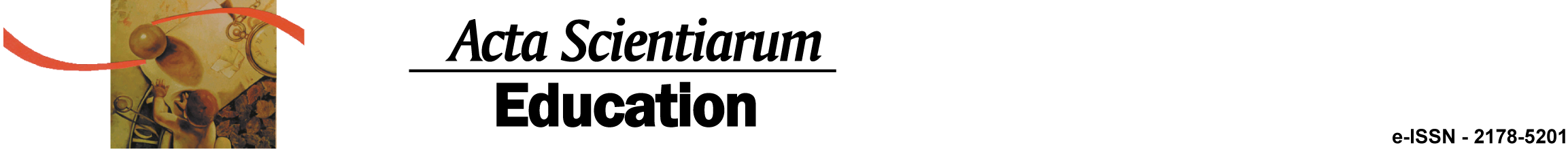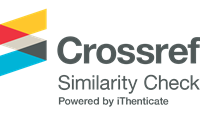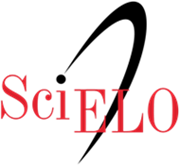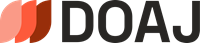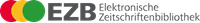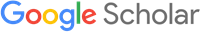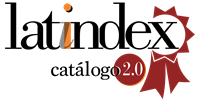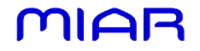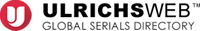Montar um céu estrelado: possibilidades metodológicas com imagens na pesquisa em educação
Resumo
A presente escrita é um esforço de realçar possibilidades metodológicas frente ao trabalho infinito diante da imagem, uma vez que, como bem nos ensinou Foucault, existe uma relação incontornável de irredutibilidade da imagem à palavra, e desta àquela. Com efeito, e a partir das teorizações arquegenealógicas foucaultianas, objetivamos delinear alguns caminhos metodológicos para pensarmos em uma pedagogia ética do olhar diante da imagem. Para tanto, argumentamos sobre a potência metodológica de uma arqueologia do saber das imagens, isto é, um exercício genealógico de pensar a multiplicidade de sentidos sobre e com imagens na tessitura do conceito de montagem proposto por Georges Didi-Huberman: os modos como as imagens, enquanto entes estelares singulares, nos permitem produzir, quando colocadas lado a lado, como em uma espécie de novos desenhos constelares, possíveis aprendizagens de resistências, de zonas de respiro, de espaços de criação do pensamento. Seguindo suas pistas, a partir de sua análise do Atlas Mnemosyne do historiador da arte alemão Aby Warburg, entendemos a montagem como um movimento genealógico que procura enfatizar o trabalho infinito diante de uma imagem, um exercício que nos permita pensar diferentemente o que somos e o que podemos vir a ser. Nesse bailado cintilante, a montagem tenta apreender a dança sobrevivente e anacrônica que é a historicidade mesma do acontecimento que é a imagem – aparecimentos, destruição e renascimentos, ou melhor, uma arqueologia do saber da e sobre a imagem que impõe à ordem do saber uma dupla condição: o inesgotável da imagem – a exuberância de seu aparecimento, o modo como nos abre para além do já sabido – e o abismal da imagem – as dimensões da imagem que se fazem irredutíveis à provisoriedade do ato de olhar, um não-saber que é intransponível ao nosso olhar diante da sobrevivência que fazem as imagens pulsar como entes vivos.
Downloads
Referências
Agamben, G. (2011). Nymphs. In J. Khalip, & R. Mitchell (Eds.), Releasing the image (p. 60-80). Stanford: Stanford University Press.
Alloa, E. (2015). Entre a transparência e a opacidade – o que a imagem dá a pensar. In E. Alloa (Org.), Pensar a imagem (p. 7-22). Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Almeida, G. (2016). Por uma arqueologia crítica das imagens em Aby Warburg, André Malraux e Jean-Luc Godard. Significação, 43(46), 29-46. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-7114.sig.2016.115616
Balthazar, G., & Marcello, F. (2018). Corpo, gênero e imagem: desafios e possibilidades aos estudos feministas em educação. Revista Brasileira de Educação, 23(1), 1-23. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782018230047
Balthazar, G. (2019). Quando a pedagogia toma posição ou o que aprendemos com os homens do triângulo rosa?. Revista Periodicus, 11(1), 209-233. DOI: https://doi.org/10.9771/peri.v1i11.29218
Baxandall, M. (2006). Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo, SP: Cia. das Letras.
Campos, D. (2016a). Um pensamento montado: Aby Warurg entre uma biblioteca e um Atlas. Revista Phoenix, 13(2), 1-20.
Campos, D. (2016b). A imagem e o anacronismo nas páginas da Garotas do Alceu. Dobras, 9(20), 53-67. DOI: https://doi.org/10.26563/dobras.v9i20.476
Campos, D. (2017). Um saber montado: Georges Didi-Huberman a montar imagem e tempo. Aniki, 4(2), 269-288. DOI: https://doi.org/10.14591/aniki.v4n2.299
Campos, D. (2020). A ninfa como personagem teórico de Warburg. Revista de História da Arte, 4(3), 225-245. DOI: https://doi.org/10.24978/mod.v4i3.4567
Daldry, S. (Diretor), & Rudin, S., Fox, R. (Produtores). (2003). As horas [Mídia de gravação: Filme/DVD]. USA: Paramount Pictures.
Didi-Huberman, G. (2012). Quando as imagens tocam o real. Pós: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG, 2(4), 204-219.
Didi-Huberman, G. (2013a). A imagem sobrevivente: história da arte e tempo de fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro, RJ: Contraponto.
Didi-Huberman, G. (2013b). Altas ou a gaia ciência inquieta. Lisboa, PT: KKYM.
Didi-Huberman, G. (2015a). Falenas: ensaios sobre aparição. Lisboa, PT: KKYM.
Didi-Huberman, G. (2015b). Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte, MG: Editora da UFMG.
Didi-Huberman, G. (2017). Quando as imagens tomam posição. Belo Horizonte, MG: Editora da UFMG.
Fischer, R. (2005). Escrita acadêmica: a arte de assinar o que se lê. In M. V. Costa, & M. I. Bujes (Orgs.), Caminhos investigativos III (p. 117-140). Rio de Janeiro, RJ: DP&A.
Fischer, R., & Marcello, F. (2016). Pensar o outro no cinema: por uma ética das imagens. Revista Teias, 17(47), 13-29. DOI: https://doi.org/10.12957/teias.2016.24577
Foucault, M. (1987). As palavras e as coisas. São Paulo, SP: Martins Fontes.
Foucault, M. (2013a). Conversa com Michel Foucault. In M. Foucault (Org.), Ditos e escritos VI: repensar a política (p. 289-347). Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Foucault, M. (2013b). Nietzsche, a genealogia e a história. In M. Foucault (Org.), Ditos & Escritos II: arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento (p. 271-295). Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Foucault, M. (2013c). A pintura fotogênica. In M. Foucault (Org.), Ditos & escritos III: estética: literatura e pintura, música e cinema (p. 346-355). Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Gallo, S. (2016). Algumas notas em torno da pergunta: ‘o que pode a imagem?’. Revista Digital do LAV, 9(1), 16-25. DOI: https://doi.org/10.5902/1983734821766
Johnson, C. (2012). Memory, metaphor, and Aby Warburg's Atlas of images. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Kern, M. L. (2010). Imagem, historiografia, memória e tempo. ArtCultura,12(21), 9-21.
Loponte, L. (2006). Escritas de si (e para os outros) na docência em arte. Educação, 31(2), 295-304.
Louro, G. (2017). Flor de açafrão: takes, cuts, close-ups. Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Marcello, F. (2005). Criança e o olhar sem corpo do cinema (Projeto de Doutorado em Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Meyer, D., & Paraíso, M. (2012). Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação. Belo Horizonte, BH: Mazza Edições.
Rancière, J. (2015). As imagens querem realmente viver? In E. Alloa (Org.). Pensar a imagem (p. 91-204). Belo Horizonte, BH: Autêntica.
Sontag, S. (2004). Sobre a fotografia. São Paulo, SP: Cia. das Letras.
Warburg.library. (2013/2016). Panel 46 - Nymph. 'Hurry-Bring-It' in the Tornabuoni circle. Domestification. Recuperado de https://warburg.library.cornell.edu/panel/46
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.