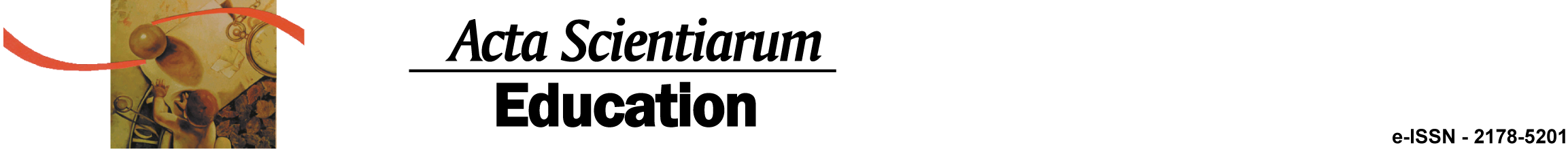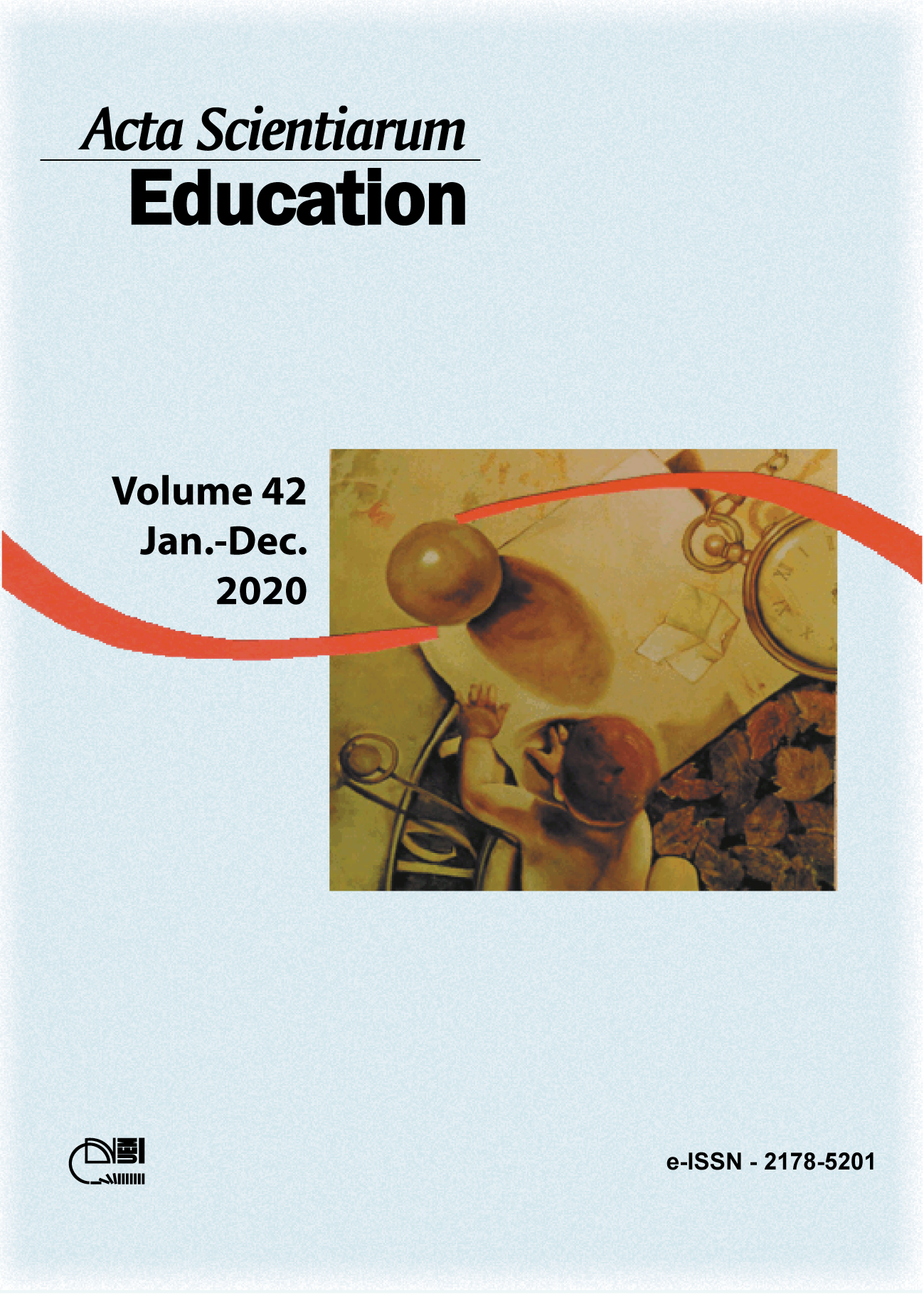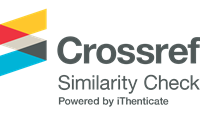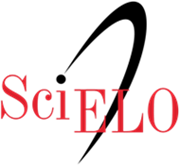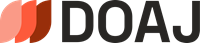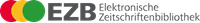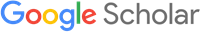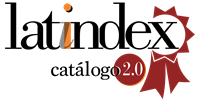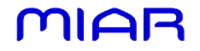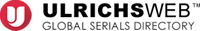Thomas Morus e a Utopia como anúncio de uma comunidade virtuosamente educativa
Chamada temática: Redes Educativas e os desafios atuais da Cibercultura
Resumo
Este artigo pretende apresentar uma discussão sobre a concepção de educação na obra Utopia de Thomas Morus. Com base nos pressupostos metodológicos da hermenêutica (Gadamer, 1997), cuja principal finalidade é a compreensão e a interpretação dos textos, objetiva-se explicitar a noção de educação expressa por Thomas Morus em sua obra Utopia. No primeiro momento, realizamos uma apresentação sobre a obra, principalmente sobre o neologismo Utopia, criado por Morus e de sua importância para o cenário filosófico e educacional renascentista e moderno (Mumford, 1922; Furter, 1977-1978; Colombo, 2006; Bloch, 2006; Quarta, 2006; Lima, 2008). No segundo momento, há uma discussão sobre a Utopia como denúncia à educação viciosa numa sociedade moralmente decadente, portanto, desumanizante, bem como sobre a noção de arete, virtude e honra (Mora, 1964; More, 1997; Pessanha, 1997; Comte-Sponville, 2000; Vazquez, 2001; Jaeger, 2010). E, na terceira e última parte, discute-se a Utopia como anúncio de uma educação baseada no cultivo do desenvolvimento moral e virtuoso dos seres humanos, bem como científico e literário. Conclui-se, que Morus concebe a Utopia como anúncio de uma comunidade educativa virtuosamente comprometida com o processo de humanização (More, 1997; Araújo & Araújo, 2006; Collins, 2010).
Downloads
Referências
Abensour, M. (1990). O novo espírito utópico. Campinas, SP: Unicamp.
Anderson, Perry (1992). O fim da história: de Hegel a Fukuyama. Rio de Janeiro, RJ: J. Zahar.
Araújo, J. M., & Araújo, A. F. (2006). Utopia e educação. Revista Portuguesa de Pedagogia, 40-41, 95-117. Recuperado de http://impactum-journals.uc.pt/rppedagogia/article/view/1150.
Bloch, E. (2006). O princípio esperança (Vol. 2, W. Fuchs, Trad.). Rio de Janeiro, RJ: EdUERJ; Contraponto.
Calvino, I. (1993). Por que ler os clássicos (N. Moulin, Trad.). São Paulo, SP: Companhia das Letras.
Cambi, F. (1999). História da pedagogia (Á. Lorencini, Trad.). São Paulo, SP: Unesp (FEU).
Collins, M. I. (2010). A filosofia moral e política na utopia de Thomas Morus (Dissertação de Mestrado em Filosofia). Universidade Estadual do Ceará, Ceará.
Colombo, A. (2006). Formas da utopia. As muitas formas e a tensão única em direção à sociedade de justiça. In C. E. O. Berriel, A. C. R. Ribeiro, & H. G. Moraes Jr. (Eds.), Morus, utopia e renascimento (Dossiê temático: o impacto da descoberta do novo mundo na cultura europeia, n. 3, p. 55-68, A. C. R. Ribeiro, Trad.). Campinas, SP: Faepex; Unicamp.
Comte-Sponville, A. (2000). Pequeno tratado das grandes virtudes (E. Brandão, Trad.). São Paulo, SP: Martins Fontes.
Evangelho de Mateus. (1990). In Bíblia Sagrada (João Ferreira de Almeida, Trad.). Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil.
Furter, P. (1977-1978). L’Amérique Utopique: Essai sur la contribution de la pensée utopique au developpement de la formation des latino-americains (Polycopié). Genève, SW: Université de Genève.
Furter, P. (1995). Mondes rêvés. Formes et expressions de la pensée imaginaire. Paris, FR: Delachaux et Nestlé.
Gadamer, H. G. (1997). Verdade e método (F. P. Meurer, Trad.). Petrópolis, RJ: Vozes.
Jacoby, R. (2001). O fim da utopia: política e cultura na era da apatia. Rio de Janeiro, RJ: Record.
Jaeger, W. (2010). Paideia: a formação do homem grego (5a ed., A. M. Parreira, Trad.). São Paulo, SP: WMF Martins Fontes.
Lima, C. (2008). Genealogia dialética da utopia. Rio de Janeiro, RJ: Contraponto.
Lyotard, J. F. (2013). A condição pós-moderna (15a ed., R. C. Barbosa, Trad.). Rio de Janeiro, RJ: José Olympio.
Mora, J. F. (1964). Dicionário de filosofia (Tomo II, P-Z). Buenos Aires, AR: Editorial Sudamericana.
More, T. (1997). A utopia. São Paulo, SP: Nova Cultural.
Mumford, L. (1922). The story of utopias. New York, NY: Boni and Liveright.
Pessanha, J. A. M. (1997). Vida e obra. In T. More. A utopia. São Paulo, SP: Nova Cultural.
Quarta, C. (2006). Utopia: gênese de uma palavra-chave. In C. E. O. Berriel, A. C. R. Ribeiro, & H. G. Moraes Jr. (Eds.), Morus, utopia e renascimento (Dossiê temático: o impacto da descoberta do novo mundo na cultura europeia, n. 3, p. 35-54, A. C. R. Ribeiro, Trad.). Campinas, SP: Faepex; Unicamp.
Roterdã, E. (1985-1986). Elogio da loucura (Os maiores clássicos de todos os tempos, Vol. III). Novo Horizonte, SP: Novo Horizonte.
Rousseau, J.-J. (1973). Do contrato social. São Paulo, SP: Abril.
Teixeira, M. A. (2016). A utopia como método: a reconstituição imaginária da sociedade. Revista Sociedade e Estado, 31(1), 262-265. Recuperado de https://www.scielo.br/pdf/se/v31n1/0102-6992-se-31-01-00261.pdf
Vázquez, A. S. (2001). Entre a utopia e a realidade. Ensaios sobre política, moral e socialismo. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.