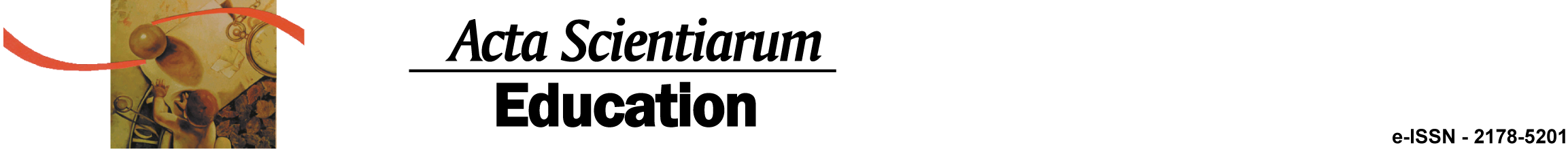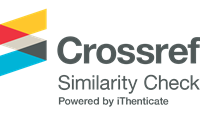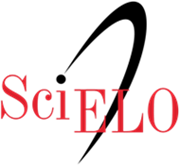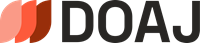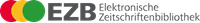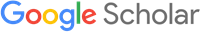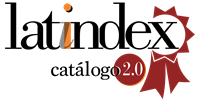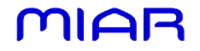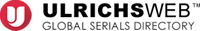Eficiência pedagógica e o projeto desenvolvimentista brasileiro: fundamentos de uma ‘neodocência’ no ensino secundário
Resumo
Este artigo problematiza a relação entre o projeto desenvolvimentista brasileiro, dimensionado para o país nas décadas de 1950 e 1960, e o ensino secundário, a partir do ideário de modernização orientado para o progresso social e econômico, com ênfase na escola e na docência como elementos capazes de viabilizar as mudanças pretendidas, conforme os preceitos da teoria do Capital Humano. Para isto, a metodologia utilizada envolveu a análise documental, de acordo com os pressupostos de Cellard (2008), tendo como princípios metodológico-interpretativos as teorizações de Popkewitz (1997), envolvendo a ‘epistemologia social’. Com base nestes apontamentos, foram analisados três materiais impressos destinados aos docentes do ensino secundário: revista ‘Escola Secundária’, publicada entre 1958 e 1963, e os livros ‘Manual do professor Secundário’, de Theobaldo Miranda Santos, publicado em 1961 e ‘Escola Secundária Moderna’, de Lauro de Oliveira Lima, publicado em 1962. Os resultados da pesquisa indicam a emergência de novas racionalidades para a docência do ensino secundário no Brasil, denominadas de ‘neodocência’, pautadas pelos imperativos de desenvolvimento econômico, seguindo os moldes empresariais de performatividade, competitividade e inovação permanente. Tais configurações, derivadas da perspectiva economicista neoliberal, posicionam o professor como facilitador da aprendizagem, com base no ideal de modernização e renovação do ensino, orientado para a eficiência pedagógica.
Downloads
Referências
Afonso, A. J. (2003). A educação superior na economia do conhecimento, a subalternização das ciências sociais e humanas e a formação de professores. Avaliação, 20(2), 269-291. DOI: https://doi.org/10.590/S1414-40772015000200002
Ando, L. M. (2015). Lauro de Oliveira Lima e a Escola Secundária: um estudo de sua produção intelectual ao longo de sua trajetória profissional (1945-1964) (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos.
Biesta, G. (2016). Devolver la enseñanza a la educación. Una respuesta a la desaparición del maestro. Pedagogía y Saberes, 1(44), 119-129. DOI: http://doi.org/10.17227/01212494.44pys119.129
Braghini, K. M. Z. (2008). Democracia industrial: uma discussão sobre o fim do bacharelismo no ensino secundário. Educação, 33(2), 293-304. DOI: http://doi.org/10.5902/19846444
Brasil. (1958). Programa de metas do Presidente JK: Estado do Plano de Desenvolvimento Econômico em 30 de junho de 1958. Rio de Janeiro, RJ: Departamento de Imprensa.
Calixto, J. A., & Neto, A. Q. (2015). O educador. Revista Profissão Docente, 15(32), 140-155.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1957, junho). Escola Secundária, (1), 8.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1958, março). Escola Secundária, (4), 16-28.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1958, setembro). Escola Secundária, (6), 4.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1958, dezembro). Escola Secundária, (7), 10.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1959, junho). Escola Secundária, (9), 3-4.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1960, março). Escola Secundária, (12), 22.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1960, setembro). Escola Secundária, (14), 3-4.
Campanha Nacional de Difusão e Aperfeiçoamento do Ensino Secundário [CADES]. (1961, março). Escola Secundária, (16), 3.
Cellard, A. (2008). A análise documental. In J. Poupart, J.P. Deslauriers, L.H. Groulx, A. Laperriere, R. Mayer, & Á. Pires (Eds.), A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos (p. 295-315). Petrópolis, RJ: Vozes.
Charlot, B. (2007). Educação e globalização: uma tentativa de colocar ordem no debate. Sísifo – Revista de Ciências da Educação, 4, 129-136.
Chaves, M. W. (2006). Desenvolvimentismo e pragmatismo: o ideário do MEC nos anos 1950. Cadernos de Pesquisa, 36(129), 705-725. DOI: http://doi.org/10.1590/S0100-15742006000300010
Cunha, M. V. (1996). Dewey e Piaget no Brasil dos anos trinta. Cadernos de Pesquisa, 97, 5-12.
Dale, R. (2004). Globalização e educação: demonstrando a existência de uma “cultura educacional mundial comum” ou localizando uma “agenda globalmente estruturada para a educação”? Educação e Sociedade, 25(87), 423-460.
Dardot, P., & Laval, C. (2016). A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo, SP: Boitempo.
Díaz-Barriga, Á. (2014). Competencias: tensión entre programa político y proyecto educativo. Propuesta Educativa, 2(42), 9-27.
Enguita, M. F. (2016). La educación en la encrucijada. Madrid, ES: Fundación Santillhana.
Fabris, E. T. H. (2018). A pedagogia do herói sob as performances das políticas públicas contemporâneas. Roteiro, 43(1), 205-224. DOI: http://doi.org/10.18593/r.v43i1.13097
Fabris, E. T. H., & Dal’Igna, M. C. (2013). Processos de fabricação da docência inovadora em um programa de formação inicial brasileiro. Pedagogía y Saberes, 39, 49-60.
Fonseca, T. N. L. (2006). História & ensino de história. Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Hargreaves, A. (2004). O ensino na sociedade do conhecimento: educação na era da insegurança. Porto, PT: Porto Editora.
Hidalgo, A. M., & Mikolaiczyk, F. A. (2015). Os organismos internacionais e o projeto nacional-desenvolvimentista: o INEP e o projeto de modernização e democratização do país. Educação em Foco, 18(25), 99-123. DOI: http://doi.org/10.24934/eef.v18i25.336
Ianni, O. (1989). Estado e planejamento econômico no Brasil. São Paulo, SP: Brasiliense.
Ide, M. H. S., & Rotta Júnior, C. (2013). Educação para o Desenvolvimento: a Teoria do Capital Humano no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 8(2), 125-144.
Kilpatrick, W. H. (1964). Educação para uma civilização em mudança. São Paulo, SP: Melhoramentos.
Krawczyk, N. (2011). Reflexão sobre alguns desafios do ensino médio no Brasil hoje. Cadernos de Pesquisa, 41(144), 752-769. DOI: http://doi.org/10.1590/S0100-15742011000300006
Lafer, C. (2002). JK e o programa de metas, 1956-1961: processo de planejamento e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: FGV.
Laval, C. (2004). A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público. Londrina, PR: Planta.
Leite, C., & Fernandes, P. (2010). Desafios aos professores na construção de mudanças educacionais e curriculares: que possibilidades e que constrangimentos? Educação, 33(3), 198-204.
Lenoir, Y. (2016). O utilitarismo de assalto às ciências da educação. Educar em Revista, 61, 159-167. DOI: http://doi.org/10.1590/0104-4060.47109
Lima, L. O. (1962). A escola secundária moderna. Rio de Janeiro, RJ: Fundo de Cultura.
Lima, L. (2012). Aprender para ganhar, conhecer para competir: sobre a subordinação da educação na “sociedade da aprendizagem”. São Paulo, SP: Cortez.
Meirieu, P. (2009). Carta a um jovem professor. Porto Alegre, RS: Artmed.
Noguera-Ramírez, C. E., & Parra, G. A. (2015). Pedagogización de la sociedad y crisis de la educación. Elementos para una crítica de la(s) crítica(s). Pedagogía y Saberes, 43, 69-78.
Nunes, C. (2000). O “velho” e “bom” ensino secundário: momentos decisivos. Revista Brasileira de Educação, 14, 35-60.
Pacheco, J. A., & Pestana, T. (2014). Globalização, aprendizagem e trabalho docente: análise das culturas de performatividade. Educação, 37(1), 24-32. DOI: http://doi.org/10.15448/1981-2582.2014.1.15013
Popkewitz, T. S. (1997). Reforma educacional: uma política sociológica-poder e conhecimento em educação. Porto Alegre, RS: Artes Médicas.
Popkewitz, T. S. (2015). La práctica como teoría del cambio: investigación sobre profesores y su formación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 19(3), 428-453.
Rosa, F. T., & Dallabrida, N. (2016). Circulação de ideias sobre a renovação do ensino secundário na revista escola secundária (1957-1961). História da Educação, 20(50), 259-274. DOI: http://doi.org/10.1590/2236-3459/61595
Sander, B. (1995). Gestão da educação na América Latina: construção e reconstrução do conhecimento. Campinas, SP: Autores Associados.
Santos, T. M. (1961). Manual do professor secundário. São Paulo, SP: Companhia Editora Nacional.
Schmidt, I. A. (2009). John Dewey e a educação para uma sociedade democrática. Contexto e Educação, 24(82), 135-154. DOI: http://doi.org/10.21527/2179-1309.2009.82.135-154
Schultz, T. W. (1987). Investindo no povo: o segredo econômico da qualidade da população. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Sibilia, P. (2012). Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro, RJ: Contraponto.
Silva, M. V., & Souza, S. A. (2009). Educação e responsabilidade empresarial: “novas” modalidades de atuação da esfera privada na oferta educacional. Educação & Sociedade, 30(108), 779-798. DOI: http://doi.org/10.1590/S0101-73302009000300008
Silva, R. R. D. (2017). Especificidades da emergência da contemporaneidade pedagógica no Brasil: apontamentos para uma história do currículo escolar. In Anais da 38ª Reunião Nacional da ANPEd (p. 1-16). São Luís, MA.
Silva, R. R. D. (2018). Estetização pedagógica, aprendizagens ativas e práticas curriculares no Brasil. Educação & Realidade, 43(2), 551-568. DOI: http://doi.org/10.1590/2175-623667743
Teixeira, A. (1957). Bases para uma programação da educação primária no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 27(65), 28-46.
Vieira, E. (1983). Estado e miséria social no Brasil de Getúlio a Geisel. São Paulo, SP: Cortez.
Waschinewski, S. C., & Rabelo, G. (2017). A escola agora é outra: o Programa de Assistência Brasileiro Americana ao Ensino Elementar – PABAEE (1956 a 1964). Educação, 42(3), 535-554. DOI: http://doi.org/10.5902/1984644428089
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.