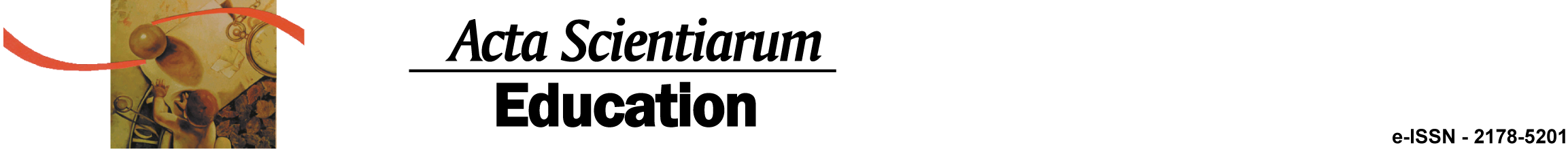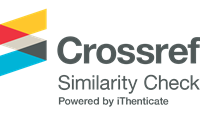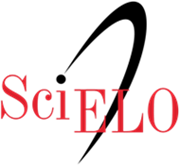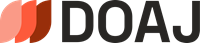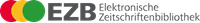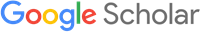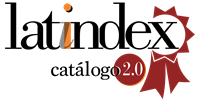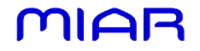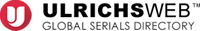Interlocuções de professores e organização do trabalho pedagógico no contexto do trabalho coletivo
Resumo
O trabalho coletivo nas escolas é uma instância de formação dos professores, participação e responsabilização colegiada pelo trabalho pedagógico. O artigo discute as contribuições do trabalho coletivo de professores no contexto da educação básica e tem como objetivo analisar a dinâmica de interlocução e de negociação de sentidos para o processo de organização do trabalho pedagógico da escola. Parte-se dos princípios de que o sujeito se constitui na dinâmica discursiva e que a consciência, que forma e altera os modos de estar no mundo, é constituída na interação social. A pesquisa foi realizada no âmbito das aulas de trabalho pedagógico coletivo (ATPC) de uma escola da rede estadual do interior paulista e as análises das intervenções dos professores nos encontros apoiam-se na perspectiva enunciativo-discursiva. Os resultados mostram que os professores, ao retomarem os discursos dos colegas, refutando-os e/ou reiterando-os na dinâmica discursiva, buscam formas de organizar o trabalho pedagógico que atendam às singularidades da escola, de sua comunidade e a produção de um conhecimento que possa contribuir com novas formas de se pensar o mundo. Ressalta-se também que a relação professor-aluno-conhecimento embasa os princípios do trabalho pedagógico desejado e que embora se admita um descompasso entre o desejado e o realizado na prática, o trabalho coletivo orientado pelo diálogo, pelas reflexões e trocas entre os professores potencializa a colaboração e a construção de sentido para a ação educativa.
Downloads
Referências
Bakhtin, M. M. (1999). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo, SP: Hucitec.
Bakhtin, M. M. (2006). Estética da criação verbal. São Paulo, SP: Martins Fontes.
Bakhtin, M. M. (2010). Questões de literatura e de estética. São Paulo, SP: Hucitec.
Bozzini, I. C. T., & Oliveira, M. R. G. (2006). Os professores e a construção do espaço coletivo escolar: o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC). Revista LOGOS, 14(1), 36-46.
Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
Chaluh, L. N. (2010). Do trabalho coletivo na escola: encontros na diferença. Pro-Posições, 21(2), 207-223. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200013
Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). Relationships of knowledge and practice: teacher learning in communities. Review of Research in Education, 24(1), 249-305. DOI: https://doi.org/10.2307/1167272
Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). Inquiry as stance: practitioner research for the next generation. New York, NY: Teachers College Press.
Contreras, J. (2002). A autonomia de professores. São Paulo, SP: Cortez.
Cunha, R. C. O. B. (2015). As repercussões das condições de trabalho na organização do trabalho coletivo e (re)elaboração do projeto político-pedagógico na escola básica. Horizontes, 33(1), 63-72. DOI: https://doi.org/10.24933/horizontes.v33i1.118
Cunha, R. C. O. B., & Barbosa, A. (2017). Trabalho coletivo e colaborativo na escola: condições e princípios de trabalho. Educação Unisinos, 21(3), 306-314. DOI: https://doi.org/10.4013/edu.2017.213.13949
Damiani, M. F. (2004). ‘Sem as reuniões a escola não existe! Não tem como!’: estudo de caso de uma escola colaborativa. In Anais da 27ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação - Anped (p. 1-15). Caxambu, MG.
Damiani, M. F. (2008). Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios. Educar, 31(1), 213-230. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-40602008000100013
Dias-da-Silva, M. H. G. F., & Fernandes, M. J. S. (2006). As condições de trabalho dos professores e o trabalho coletivo: mais uma armadilha das reformas educacionais neoliberais? In Anais do 6º Seminário da Redestrado – Regulação Educacional e Trabalho Docente (p. 1-13), Rio de Janeiro, RJ.
Dourado, L. F. (2012). Gestão em educação escolar. Cuiabá MT: UFMT/Rede e-Tec Brasil.
Faraco, C. A. (2009). Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. São Paulo, SP: Parábola Editorial.
Fiorin, J. L. (2010). Categoria de análise em Bakhtin. In L. Paula, & G. Stafuzza (Orgs.), Círculo de Bakhtin: diálogos in possíveis (Vol. 2, p. 53-88). Campinas, SP: Mercado de Letras.
Fontana, R. C. (2010). Como nos tornamos professoras? Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Geraldi, C. M. G., Messias, M. G. M., & Guerra, M. D. S. (1998). Refletindo com Zeichner: um encontro orientado por preocupações políticas, teóricas e epistemológicas. In C. M. G. Geraldi, D. Fiorentini, & E. M. A. Pereira (Orgs.), Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a) (p. 237-274). Campinas, SP: Mercado de Letras - Associação de Leitura do Brasil – ALB.
Hypólito, A. M., & Ivo, A. A. (2013). Políticas curriculares e sistemas de avaliação: efeitos sobre o currículo. Revista e-Curriculum, 2(11), 376-392.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355
Lima, L. (2011) Avaliação, competitividade e hiperburocracia. In M. P. Alves, & J. M. Ketele (Orgs.), Do currículo à avaliação, da avaliação ao currículo (p. 71-82). Porto: Porto, RS: Porto Editora.
Nacarato, A. M., Grando, R. C., & Mascia, M. A. M. (2013). A formação docente em projetos de parceria universidade e escola. Acta Scientiae, 15(1), 24-41.
Oliveira, D. A. (2004). A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. Educação e Sociedade, 25(89), 1127-1144. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-73302004000400003
Oliveira, L. H. R. (2006). Trabalho coletivo em educação: os desafios para a construção de uma experiência educacional fundamentada na cooperação em uma escola municipal de São Paulo (Dissertação de Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Pacheco, J. A. (1995). O pensamento e a acção do professor. Lisboa, PT: Porto Editora.
Sadalla, A. M. F. A., & Sá-Chaves, I. S. C. (2008). Constituição da reflexividade docente: indícios de desenvolvimento profissional coletivo. ETD – Educação Temática Digital, 9(2), 189-203. DOI: https://doi.org/10.20396/etd.v9i2.826
São Paulo. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. (1997). Lei Complementar nº 836, de dezembro de 1997. Institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá outras providências correlatas. São Paulo, SP. Recuperado de https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1997/alteracao-lei.complementar-836-30.12.1997.html
Snyders, G. (1988). A alegria na escola. São Paulo, SP: Manole.
Snyders, G. (2001). Para onde vão as pedagogias não-diretivas? São Paulo, SP: Centauro.
Sobral, A. (2008). Ético e estético. Na vida, na arte e na pesquisa em Ciências Humanas. In B. Brait (Org.), Bakhtin conceitos-chave (p. 103-122). São Paulo, SP: Contexto.
Souza, A. R. (2009). Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. Educação em Revista, 25(3), 123-140. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-46982009000300007
Sousa, S. M. Z. L. (2014). Concepções de qualidade da educação básica forjadas por meio de avaliações em larga escala. Avaliação, 19(2), 407-420. DOI: https://doi.org/10.1590/S1414-40772014000200008
Veiga, I. P. A. (2004). Educação básica e educação superior: projeto político-pedagógico. Campinas, SP: Papirus.
Vieira, R. A., & Almeida, M. I. (2017). Contribuições de Georges Snyders para a pedagogia universitária. Educação e Pesquisa, 43(2), 499-514. DOI: https://doi.org/10.1590/S1517-9702201605141169
Volóchinov, V. (2017). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo, SP: Editora 34.
Young, M. (2007). Para que servem as escolas? Educação e Sociedade, 28(101), 1287-1302. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-73302007000400002
Zeichner, K. M. (1993). A Formação reflexiva de professores: idéias e práticas. Lisboa, PT: EDUCA.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.