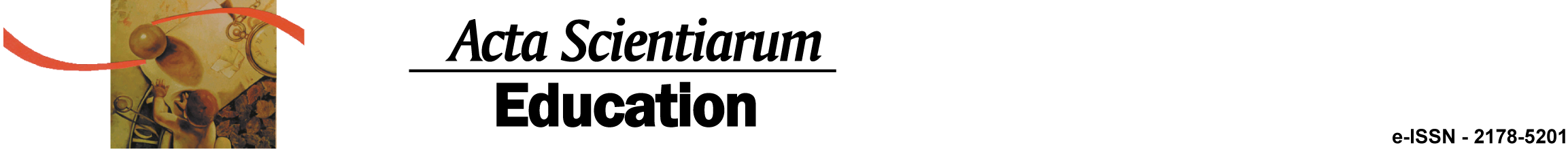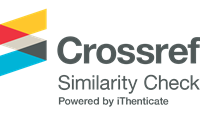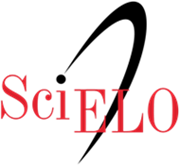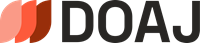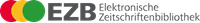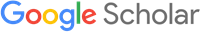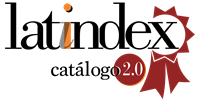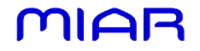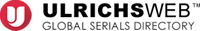The Basic Education Chamber of the National Education Council (1996-2002): formation, academic production and political culture
Abstract
This article adopts as sources the Lattes Curriculum of the counselors of the Chamber of Basic Education of the National Council of Education from 1996 to 2002, the general search on Google and their academic productions. It aims to analyze the influence of formative trajectories and their consequences in the academic production of the counselors of the Basic Education Chamber of the National Education Council (1996-2002) for the constitution of a Brazilian political-educational culture in the context of educational projects in dispute. As a theoretical-methodological foundation, it assumes the critical-documentary analysis and the evidential paradigm. The results show that the counselors who had consistent educational academic production were relevant in the institution (1996-2002) and in the continuity (from 2003) of the political-educational culture and those who did not have expressive production influenced it from their trajectories and their sociability networks. We conclude that there is an influence of the formative trajectories in the establishment of the political-educational culture of that period and its consequences in the academic production, which was constituted as a scriptural element capable of influencing the political-educational culture at the present moment and its continuity. In addition, this production indicates the political characteristics of the country and the educational policies that were in evidence, the tensions, disputes and negotiations for the constitution of different educational projects, as well as an instrument for the maturation of the political-educational culture, as well as a disseminating agent. of this in the educational projects in dispute.
Downloads
References
Alves, C. (2019). Contribuições de Jean-François Sirinelli à história dos intelectuais da educação. Educação e Filosofia, 33(67), 27-55. DOI: https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.v33n67a2019-47879
Assis, R. A. (1986). É preciso pensar em educação escolarizada para crianças de 4 a 6 anos? Cadernos de Pesquisa, 59, 66-72.
Berstein, S. (2009). Culturas políticas e historiografia. In C. Azevedo, D. Rollemberg, M. F. Bicalho, P. Knauss, & S. V. Quadrat (Orgs.), Cultura política, memória e historiografia (p. 29-46). Rio de Janeiro, RJ: FGV.
Bizzo, N. M. V., & Kelly, P. J. (1991). Myriam krasilchik: a brazilian science educator. Teaching Education, 3(2), 133-136.
Bloch, M. (2001). Apologia da história: ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar.
Boudelot, C., & Establet, R. (1971). L'ecole capitaliste en France. Paris, FR: Maspero.
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1975). A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro, RJ: Francisco Alves.
Brasil. (1961). Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União.
Brasil. (1995). Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União.
Certeau, M. (2011). A escrita da história (3ª ed.). Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Ciavatta, M., & Ramos, M. (2012). A "era das diretrizes": a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres. Revista Brasileira de Educação, 17(49), 11-37. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782012000100002
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil [CNBB]. (1990). Educação no Brasil: uma urgência. Revista de Educação AEC, 19(75).
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNPq]. (1951). História. Recuperado de https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/historico
Cury, C. R. J. (1979). Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do fenômeno educativo (Tese de Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
Cury, C. R. J. (2005a). Políticas inclusivas e compensatórias na educação básica. Cadernos de Pesquisa, 35(124). DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-15742005000100002
Cury, C. R. J. (2005b). Quadragésimo ano do parecer CFE nº 977/65. Revista Brasileira de Educação, 30, 7-20. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782005000300002
Cury, C. R. J. (2005c). O público e o privado na história da educação brasileira: concepções e práticas educativas. Campinas: Autores Associados, 03-30.
Cury, C. R. J., & Saviani, D. (2016, 3 de nov.). Dermeval Saviani não participa de cerimônia do Prêmio Capes “Anísio Teixeira”. Pós-Graduação em educação para a Ciência e a Matemática. Recuperado de http://www.pcm.uem.br/noticia/12/dermeval-saviani-nao-participa-de-cerimonia-do-premio-capes
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. (1997). Plano Nacional de Educação: proposta da sociedade brasileira. Belo Horizonte, MG: Congresso Nacional de Educação.
Garcia, W. E. (2011). Bernardete A. Gatti: educadora e pesquisadora. São Paulo, SP: Autêntica.
Ginzburg, C. (1989). Mitos, emblemas, sinais. São Paulo, SP: Companhia das Letras.
Ginzburg, C. (1991). A micro-história e outros ensaios. Lisboa, PT: Difel.
Josgrilberg, R. S. (2012). Celebrar a educação na visão metodista: a propósito do 45 anos do Cogeime. Revista de Educação do Cogeime, 21(41), 69-78. DOI: http://dx.doi.org/10.15599/0104-4834/cogeime.v21n41p69-78
Lüdke, H. A. (1983). O educador: um profissional? Revista da Faculdade de Educação da UFF, 1(1), 11-22.
Ludke, M. (1984). A pesquisa qualitativa e o estudo da escola. Cadernos de Pesquisa, (49), 43-44.
Lüdke, M. (2005a). O professor e sua formação para a pesquisa. Eccos, 7(2), 333-349. DOI: https://doi.org/10.5585/eccos.v7i2.420.
Lüdke, M., & Cruz, G. B. (2005b). Aproximando universidade e escola de educação básica pela pesquisa. Cadernos de Pesquisa, 35(125), 81-109. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-15742005000200006
Lüdke, M., & Moreira, A. F. B. (2002). Propostas recentes para a reforma da formação de professores no Brasil. Revista Portuguesa de Educação, 15(1), 53-83.
Madeira, F. R., & Mello, G. N. (1985). Educação na América Latina: os modelos teóricos e a realidade social. São Paulo, SP: Cortez.
Mainardes, J. (2018). A pesquisa no campo da política educacional: perspectivas teórico-epistemológicas e o lugar do pluralismo. Revista Brasileira de Educação, 23, e230034. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782018230034
Marx, K. (1973). Brief an Friedrich Bolte v. 23. Nov. 1871. Berlim, DE: Dietz.
Mello, G. N. (1974). Construção de um instrumento para avaliação da competência do professor por meio da observação da interação professor-aluno (Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
Mello, G. N. (1982a). Magistério de 1º grau: da competência técnica ao compromisso político. São Paulo, SP: Cortez.
Mello, G. N. (1982b). Fatores intra-escolares como mecanismos de seletividade no ensino de 1º. grau. Em Aberto, 1(6), 7-12. DOI: https://doi.org/10.24109/2176-6673.emaberto.1i6.3714
Mello, G. N. (1994). Escolas eficazes: um tema revisitado. Brasília, DF: MEC.
Mello, G. N. (1990). Social democracia e educação: teses para discussão. São Paulo, SP: Cortez.
Mello, G. N., & Silva, R. N. (1991). A gestão e a autonomia da escola nas novas propostas de políticas educativas para a América Latina. Estudos Avançados, 5(12), 45-60. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-401419910002000041991
Mello, G. N. (1991). Políticas públicas de educação. Estudos avançados, 5, 7-47.
Moraes, T. C. R. R. (2002). Ofício de professor: aprender mais para ensinar melhor. Fundação Victor Civita, 8.
Motta, R. P. S., & Abreu, L. A. (2013). Introdução. In L. A. Abreu, & R. P. S. Motta (Orgs.), Autoritarismo e cultura política (p. 1-15). Porto Alegre, RS: FGV.
Motta, V. C., & Frigotto, G. (2017). Por que a urgência da reforma do ensino médio? Medida Provisória nº 746/2016 (Lei nº 13.415/2017). Educação e Sociedade, 38(139), 355-372. DOI: https://doi.org/10.1590/ES0101-73302017176606.
Ory, P., & Sirinelli, J.-F. (2007). Los intelectuales en Francia: del caso Dreyfus a nuestros días. València, ES: Universitat de València.
Pinheiro, A. L. M. (2004). Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe (Seminario Cepal/Unesco). San Juan: Unesco.
Saviani, D. (1980). Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo, SP: Autores Associados.
Saviani, D. (2005). [Entrevista concedida a Dalton José Alves e Nailda Marinho da Costa Bonato]. Acervo, 18(1), 5-14.
Saviani, D. (2011). Da nova LDB ao Fundeb (4ª ed.). Campinas, SP: Autores Associados.
Silva, M. R. (2018). A BNCC da reforma do Ensino Médio: o resgate de um empoeirado discurso. Educação em Revista, 34, e214130. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-4698214130
Sirinelli, J.-F. (2003). Os intelectuais. In R. Rémond (Org.), Por uma história política (p. 231-270). Rio de Janeiro, RJ: FGV.
Snyders, G. (1977). Escola, classe e luta de classes. Lisboa, PT: Moraes.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência [SBPC]. (2020). História. Recuperado de http://portal.sbpcnet.org.br/a-sbpc/historico/historia/
Veiga, C. G. (2011). Carlos Roberto Jamil Cury: intelectual e educador. Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Vidal, D. G. (2011). Dermeval Saviani: pesquisador, professor e educador. São Paulo, SP: Autores Associados.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARATION OF ORIGINALITY AND COPYRIGHTS
I declare that this article is original and has not been submitted for publication in any other national or international journal, either in part or in its entirety.
The copyright belongs exclusively to the authors. The licensing rights used by the journal are the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) license: sharing (copying and distributing the material in any medium or format) and adaptation (remixing, transforming, and building upon the material thus licensed for any purpose, including commercial purposes) are permitted.
It is recommended that you read this link for more information on the subject: providing credits and references correctly, among other crucial details for the proper use of the licensed material.