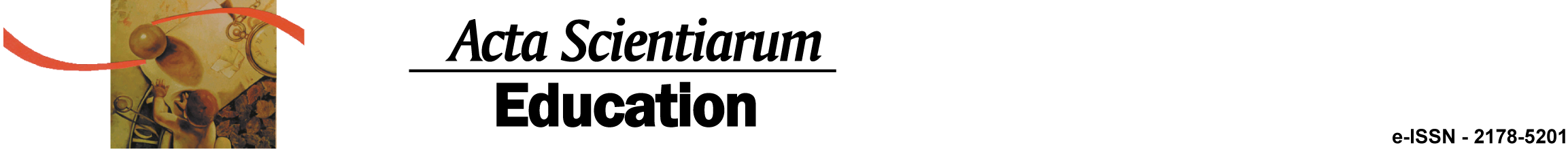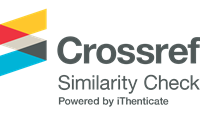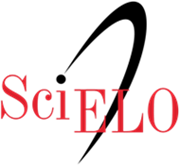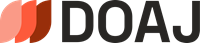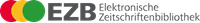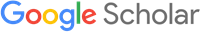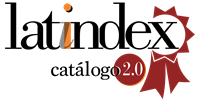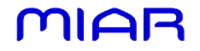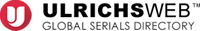A análise arqueológica do discurso e a questão do cuidado com o outro: reflexões e possibilidades educativas que se manifestam em um modo de vida
Resumo
Neste artigo refletimos sobre a análise arqueológica do discurso (AAD) enquanto possibilidade de formação humana e educativa. Nossa problemática: quais as possibilidades da AAD instaurar práticas e processos educativos assentados na alteridade? Para refletir sobre essa questão, recorremos a Bourdieu (1982), Webber (1994), Rosemberg (2006), Freire (1981, 2011) e Foucault (2006, 2008). Entretanto, é a partir da abordagem teórico-metodológica da AAD, instituída por Foucault, que analisamos essas possibilidades. Nossa discussão se assenta no reconhecimento de que a AAD contempla uma série de aspectos educativos relevantes relacionados à questão do cuidado com o outro, como a linguagem, a escuta criteriosa do objeto, etc. Assim, a análise aponta que a AAD abarca um conjunto de aprendizagens, desenvolvidas no curso da realização da pesquisa, afeitas à constituição de relações de reconhecimento da alteridade e formação de uma posição de sujeitos assumidamente sensíveis e comprometidos com a escuta e o cuidado com o outro.
Downloads
Referências
Alcântara, M. A. M., & Carlos, E. J. (2013). Análise arqueológica do discurso: uma alternativa de investigação na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Intersecções,1(6), 59-73.
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1982). A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro, RJ: Francisco Alves.
Carlos, E. J. (2017). Achados sobre a noção arqueológica do discurso em Foucault. Revista Dialectus, 1(11), 176-19. DOI: https://doi.org/10.30611/2017n11id31008
Carlos, E. J. (2021). Especificidades e usos da noção de signo em Arqueologia do Saber. Educação e Filosofia, 35(74), 617-642. DOI: https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.v35n74a2021-54824
Fernandes, F. (2020). O desafio educacional. São Paulo, SP: Expressão Popular.
Ferreira, A. L., Acioly-Regnier, N. M. (2011). Psicologia e processos interativos nos espaços de periferia: a formação humana em questão (1. ed.). Recife: Edufpe.
Foucault, M. (1990) As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo, SP: Martins Fontes.
Foucault, M. (2001). Linguagem e literatura. In R. Machado, Foucault, a filosofia e a Literatura (p. 139-174). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar Editora.
Foucault, M. (2006). A hermenêutica do sujeito. São Paulo, SP: Martins Fontes.
Foucault, M. (2008). A arqueologia do saber. Rio de Janeiro, : Forense Universitária.
Freire, P. (1967). Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra.
Freire, P. (1981). Ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra.
Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. São Paulo, SP: Paz e Terra.
Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, SP: Paz e Terra.
Freire, P. (2011). Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo, SP: Paz e Terra.
Gomides, F. P., Sousa Junior, L., Silva, A. N. (2018). A contrarreforma do ensino médio: a flexibilização curricular e a consolidação do dualismo educacional no Brasil sob a égide do Banco Mundial. In XXIV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste. Reunião Científica Regional da ANPEd. João Pessoa, PB; Rio de Janeiro, RJ: Anped.
Japão em foco. (2014, 1 de maio). Esvazie sua xícara… (Filosofia Zen). Recuperado de https://www.japaoemfoco.com/esvazie-sua-xicara-filosofia-zen/
Miklos, C. (2010). A arte zen e o caminho do vazio: uma investigação sobre o conceito zen-budista de não eu na criação de arte (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal Fluminense, Niterói.
Mosé, V. (2023, março). Poemas presos. Recuperado em março de 2023 de https://www.portalraizes.com/viviane-mose-lagrima-e-raiva-derretida-raiva-endurecida-e-tumor/#goog_rewarded
Palomo, S. M. S. (2001). Linguagem e linguagens. Eccos Revista Científica, 2(3), 9-15. DOI: https://doi.org/10.5585/eccos.v3i2.272
Pelizzoli, M. L. (2012). Introdução à comunicação não violenta (CNV): reflexões sobre fundamentos e método. In M. L. Pelizzoli (Org.), Diálogo, mediação e cultura de paz (p. 14-46). Recife, PE: Editora da UFPE.
Ribeiro, A. C. (2016). A teia e o labirinto (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
Röhr, F. (2013). Educação e espiritualidade: contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade, do homem e da educação. Campinas, SP: Mercado das Letras.
Rosemberg. M. B. (2006). Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais I. São Paulo, SP: Ágora.
Saviani, D. (2007). História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados.
Weber, M. (1994). Teoria das categorias sociológicas. In M. Weber, Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva (Vol. 1, p. 3-35). Brasília, DF: Editora Universitária de Brasília.
Weil, P., Leloup, J.-Y., Crema, R. (2003). Normose: a patologia da normalidade. Campinas, SP: Verus.
Wanzeler, M. (2011). O cuidado de si em Michel Foucault (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.