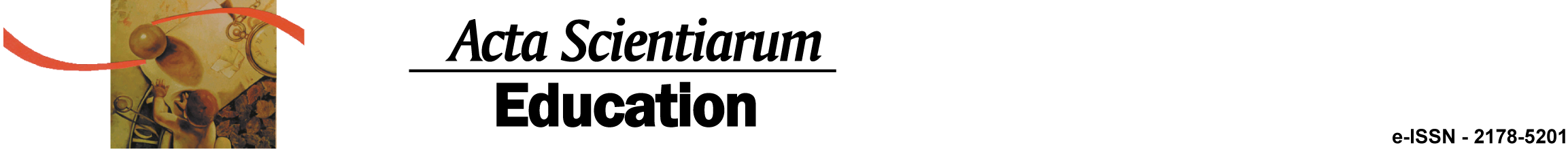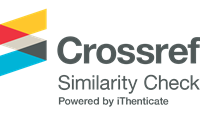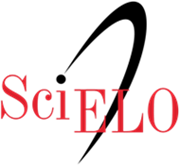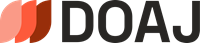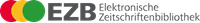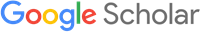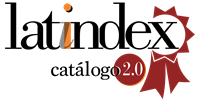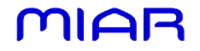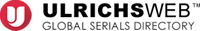Trajectivities: other ways of researching, thinking and being on deaf education
Abstract
This paper invites to think on the post-structuralist perspective in educational research, specifically regarding the field of education of the deaf within the inclusive education scene. To do so, it sought to introduce some constructions with the concept of trajectivity from Virilio (1993) as a theoretical-methodological operator aligned to the post-structuralist perspective from a Master’s research. In this perspective it also understands trajectivity as a force in the formation of a writing-life-research, which reflects upon the means of producing a different teaching process and education with de deaf at common school. We mobilize the strength of this concept acknowledging the production of a trajective teaching regarding education and the research as different ways of teaching and education of the deaf as possibility of tensioning the relations of truth and knowledge-power. Trajectivity, as a theoretical-methodological path, embraces essayistic writing as (de)formation of a self who constitutes him/herself as trajective with others-together and with his/her relations concerning education to produce his/her existence-teaching by the “wandering”of the writing-life-research that composes him/her. The trajective teacher-researcher founded new relations with herself, with others and with the processes of schooling at the common school as she put herself in trajectivity with the experiences-marks of her teaching. There were elected some flashes of trajectivity during the investigative process of the Master to announce the possibility of experimenting other investigative ways that could transgress rigid, hegemonic and structuralizing research paths. Therefore the paper announces trajectivity as a movement, which is made when we walk amongst a life-research composing a becoming-research by the exercise of essayistic writing. In the light of that, we propose the invitation-desire of embracing trajectivity as a possibility of a subjective movement of thoughts and relations in educational contexts. It also presents trajectivity as a possibility of fracture and transgression regarding the dominant investigative processes of researching by means of the ethical and aesthetic movement that it assumes.
Downloads
References
Araujo, R. A., & Corazza, S. M. (2017). Pesquisar: uma atitude didático-tradutória de escriler a vida. In S. M. Corazza (Org.), Docência-pesquisa da diferença: poética de arquivo-mar (p. 233-254). Porto Alegre, RS: Doisa; UFRGS.
Adorno, T. W. (2003). O ensaio como forma. In T. W. Adorno, Notas de literatura I (p. 15-46). São Paulo, SP: Editora 34.
Aquino, J. G. (2011). A escrita como um modo de vida: conexões e desdobramentos educacionais. Educação e Pesquisa, 37(3), 641-656, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S1517-97022011000300013
Aspis, R. P. L. (2012). Ensino de filosofia e resistência (Tese de Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
Benjamin, W. (1986). A imagem de Proust. In W. Benjamin, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (p. 36-49). São Paulo, SP: Brasiliense.
Carvalho, A. F. (2010). Foucault e a função-educador. Ijuí, RS: Unijuí.
Carvalho, A. F. (2016). A função-educador na perspectiva da biopolítica e da governamentalidade neoliberal. Cadernos IHU ideias, 14(244), 1-28. Recuperado de http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/244cadernosihuideias.pdf
Carvalho, A. F. (2018). Heterotopias e trajetividades: lugares para as diferenças nas subjetividades nômades. Leitura: Teoria & Prática, 36(73), 119-134. DOI: : https://doi.org/10.34112/2317-0972a2018v36n73p119-134
Carvalho, A. F. (2021). Pós-modernidade e agenciamentos trajetivos: passagens insituáveis para uma educação estético-ético-política. Revista Dialectus, 10(22), 42-63. DOI: https://doi.org/10.30611/2021n22id71232
Carvalho, A. F., & Gallo, S. (2022). Do sedentarismo ao nomadismo: intervenções do pensamento das diferenças para a educação. Belo Horizonte, MG: Fino Traço.
Corazza, S. M. (2007). Labirintos da pesquisa, diante dos ferrolhos. In M. V. Costa (Org.), Caminhos investigativos I (p. 135-131). Rio de Janeiro, RJ: Lamparina.
Deleuze, G. (1992). Conversações. São Paulo, SP: Editora 34.
Deleuze, G. (1994). Nietzsche. Lisboa, PT: Edições 70.
Deleuze, G., & Guattari, F. (2014). Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2 (Vol. 1). São Paulo, SP: Editora 34.
Dell’ Osbel, L. (2022). Trajetividades com outros-juntos: o que pode uma docência com a presença-vida surda? (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.
Foucault, M. (2003). Le pouvoir psychiatrique-cours au Collège de France (1973-1974). Paris, FR: Gallimard; Seuil.
Foucault, M. (2004). O uso dos prazeres e as técnicas de si. In M. Foucault, Ditos e escritos V: ética, política e sexualidade (p. 198-199). Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Foucault, M. (2014). Ditos e escritos, V: ética, sexualidade e política. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária.
Gallo, S. (2017). Biopolítica e subjetividade: resistência? Educar em Revista, 33(66), 77-94. DOI: : https://doi.org/10.1590/0104-4060.53865
Garlet, F. R. (2018). Entre o visível e o enunciável em educação: o que pode uma docência que cava a si mesma? (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.
Gros, F. (2006). O cuidado de si em Michel Foucault. In M. Rago, & A. Veiga-Neto (Orgs.), Figuras de Foucault (p. 127-138). Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Guattari, F., & Rolnik, S. (2005). Micropolíticas: cartografias do desejo. Petrópolis, RJ: Vozes.
Hooks, b. (2017). Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade. São Paulo, SP: WMF Martins Fontes.
Kohan, W. O. (2002). Entre Deleuze e educação: notas para uma política do pensamento. Educação & Realidade, 27(2), 123-130.
Larrosa, J. (2003). O ensaio e a escrita acadêmica. Educação & Realidade, 28(2), 101-115. Recuperado de https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/25643
Larrosa, J. (2004). A Operação Ensaio: sobre o ensaiar e o ensaiar-se no pensamento, na escrita e na vida. Educação & Realidade, 29(1), 27-43.
Larrosa, J. (2011). Experiência e alteridade em educação. Reflexão e Ação, 19( 2), 4-27. DOI: https://doi.org/10.17058/rea.v19i2.2444
Larrosa, J. (2016). Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Lopes, M. C., & Veiga-Neto, A. (2010). Para pensar de outros modos a modernidade pedagógica. ETD – Educação Temática Digital, 12(1), 147-166. DOI: https://doi.org/10.20396/etd.v12i1.846
Martins, V. R. O. (2016). Educação de surdos e proposta bilíngue: ativação de novos saberes sob a ótica da filosofia da diferença. Educação & Realidade, 41(3), 713-729. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-623661117.
Meyer, D. E., & Paraíso, M. A. (2012). Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação. Belo Horizonte, MG: Mazza Edições.
Neuscharank, A., & Barin, A. C. (2018). O que podem as imagens na pesquisa acadêmica? I/mediações e possibilidades a partir da artista contemporânea Brooke Shaden. In L. D. Valle (Org.), Artes visuais e suas i/mediações conexões interdisciplinares (p. 52-63). Santa Maria, RS: PPGART-UFSM.
Olegario, F., & Munhoz, A. V. (2014). Escrita ensaística: fragmentos menores. Fractal, 26(1), 155-164. DOI: https://doi.org/10.1590/S1984-02922014000100012
Ribeiro, C. R. (2020). Escolas e problemas: uma política vitalista. In S. Gallo, & S. Mendonça (Orgs.), A escola: uma questão pública (p. 165-177). São Paulo, SP: Parábola.
Rolnik, S. (1993). Pensamento, corpo e devir: uma perspectiva ético/estético/política no trabalho acadêmico. Cadernos de Subjetividade, 2(1), p. 241-251. DOI: https://doi.org/10.2354/cs.v1i2.38134
Rolnik, S. (2018). Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo, SP: n-1 edições.
Rosa, J. G. (2019). Grande sertão: veredas. São Paulo, SP: Companhia das Letras.
Silva, T. T. (2007). Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Tedeschi, S. L., & Pavan, R. (2017). A produção do conhecimento em educação: o pós-estruturalismo como potência epistemológica. Práxis Educativa, 12(3), 772-787. DOI: https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.12i3.005
Tóffoli, G., & Kasper, K. (2018). Errâncias: cartografias em trajetos de-formativos. Leitura: Teoria & Prática, 36(72), 85-98. DOI: https://doi.org/10.34112/2317-0972a2018v36n72p85-98
Virilio, P. (1993). O espaço crítico. São Paulo, SP: Editora 34.
Voss, D. M. S. (2020). Habitar outros mundos em tempos sombrios. In P. H. Rocha, P. H. B., J. L. Magalhães, & P. M. P. Oliveira (Orgs.), Decolonialidade a partir do Brasil (p. 221-239). Belo Horizonte, MG: Dialética.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARATION OF ORIGINALITY AND COPYRIGHTS
I declare that this article is original and has not been submitted for publication in any other national or international journal, either in part or in its entirety.
The copyright belongs exclusively to the authors. The licensing rights used by the journal are the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) license: sharing (copying and distributing the material in any medium or format) and adaptation (remixing, transforming, and building upon the material thus licensed for any purpose, including commercial purposes) are permitted.
It is recommended that you read this link for more information on the subject: providing credits and references correctly, among other crucial details for the proper use of the licensed material.