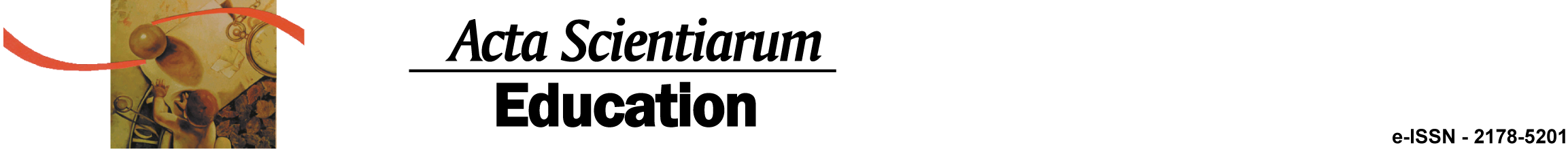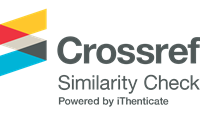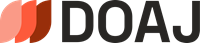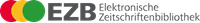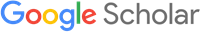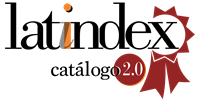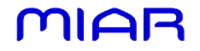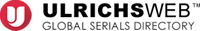A ‘compreensão’ em Wittgenstein: repercussões no ensino de ciências e de matemática
Resumo
Neste artigo apresentamos reflexões sobre a constituição da ‘compreensão’ na filosofia de Wittgenstein. Inicialmente, fazemos uma incursão no ‘Investigações Filosóficas’ com a finalidade de buscar caracterizações para a compreensão em Wittgenstein. Em seguida, trazemos ao texto repercussões dessa perspectiva filosófica de compreensão no Ensino. Destacamos que seguir regras convencionadas socialmente em demonstrações públicas de uso da linguagem é um indicativo de compreensão e é na articulação entre a compreensão e sua manifestação que podemos investigar (como pesquisador) ou avaliar (como professor) a compreensão dos alunos.
Downloads
Referências
Almeida, L. M. W. (2014). The "practice" of mathematical modeling under a wittgensteinian perspective. International Journal for Research in Mathematics Education, 4(2), 98-113.
Araújo, I. L. (2012). Wittgenstein: o “conhecimento” na relação entre linguagem e realidade. In B. Valle, H. L. Martínez, & L. Peruzzo Júnior (Eds.), Ludwig Wittgenstein perspectivas (p. 11-30). Curitiba, PR: CRV.
Baker, G. P., & Hacker, P. M. S. (2005). Wittgenstein: understanding and meaning: Volume 1 of an analytical commentary on the philosophical investigations, part I: Essays (2nd ed.). Oxford, GB: Blackwell Publishing.
Espinet, M., Izquierdo, M., Bonil, J., & Robles, S. L. R. (2012). The role of language in modeling the natural world: perspectives in science education. In B. J. Fraser, K. G. Tobin, & C. J. McRobbie (Eds.), Second international handbook of science education (p. 1385-1403). London, GB: Springer.
Gebauer, G. (2013). O pensamento antropológico de Wittgenstein. São Paulo, SP: Edições Loyola.
Glock, H.-J. (1998). Dicionário Wittgenstein. Rio de Janeiro, RJ: Zahar.
Góis, J., & Giordan, M. (2009). Wittgenstein e os processos de significação no ensino de ciências. In Anais do VII Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências (p. 1-6). Florianópolis, SC.
Gottschalk, C. M. C. (2010). O papel do método no ensino: da maiêutica socrática à terapia wittgensteiniana. Educação Temática Digital, 12(1), 64-81. doi: 10.20396/etd.v12i1.842
Gottschalk, C. M. C. (2018). A atividade matemática escolar como introdução de paradigmas na linguagem. Revista de Educação, Ciência e Cultura, 23(1), 113-124. doi: 10.18316/recc.v23i1.4192
Hsu, P.-L., & Roth, W.-M. (2012). Understanding beliefs, identity, conceptions, and motivations from a discursive psychology perspective. In B. J. Fraser, K. G. Tobin, & C. J. McRobbie (Eds.), Second international handbook of science education (p. 1435-1451). London, GB: Springer.
Kenny, A. (1979). Wittgenstein. Madrid, ES: Revista de Occidente.
Machado, A. N. (2007). Lógica e forma de vida: Wittgenstein e a natureza da necessidade lógica e da filosofia. Porto Alegre, RS: Unisinos.
McGinn, C. (1984). Wittgenstein on meaning. England: Blackwell.
Moreno, A. R. (2004). Uma concepção de atividade filosófica. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 14(2), 275-302.
Oliveira, M. S. (2010). Interpretação e comunicação em ambientes de aprendizagem gerados pelo processo de modelagem matemática (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Pará, Belém.
Rocha, M. N. (2015). A necessidade do pensamento filosófico para a compreensão da física: um estudo inspirado em Wittgenstein no contexto da mecânica newtoniana (Dissertação de Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Roth, W.-M. (2015). Heeding wittgenstein on “understanding” and “meaning”: a pragmatist and concrete human psychological approach in/for education. Outlines. Critical Practice Studies, 16(1), 26-53.
Silveira, M. R. A. (2014). Tradução de textos matemáticos para a linguagem natural em situações de ensino e aprendizagem. Educação Matemática Pesquisa, 16(1), 47-73.
Seki, J. T. P. (2019). Modelagem matemática, compreensão e linguagem: interlocuções fundamentadas na filosofia de Wittgenstein (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
Sousa, B. N. P. A. (2017). A Matemática em atividades de modelagem matemática: uma perspectiva wittgensteiniana (Tese de Doutorado). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
Spaniol, W. (1989). Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São Paulo, SP: Loyola.
Tortola, E. (2016). Configurações de modelagem matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Tese de Doutorado). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
Vilela, D. S. (2013). Usos e jogos de linguagem na matemática: diálogo entre filosofia e educação matemática. São Paulo, SP: Livraria da Física.
Wickman, P.-O., & Östman, L. (2002). Learning as discourse change: a sociocultural mechanism. Science Education, 88(5), 601-623.
Wittgenstein, L. (1981). Fichas (Zettel). Lisboa, PT: Edições 70.
Wittgenstein, L. (2014). Investigações filosóficas (9a. ed.). Petrópolis, RJ: Vozes.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.