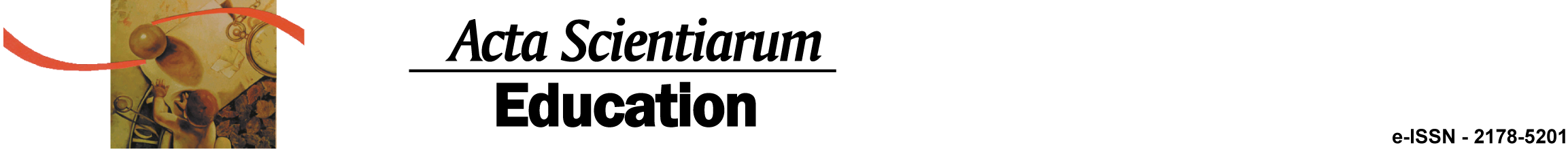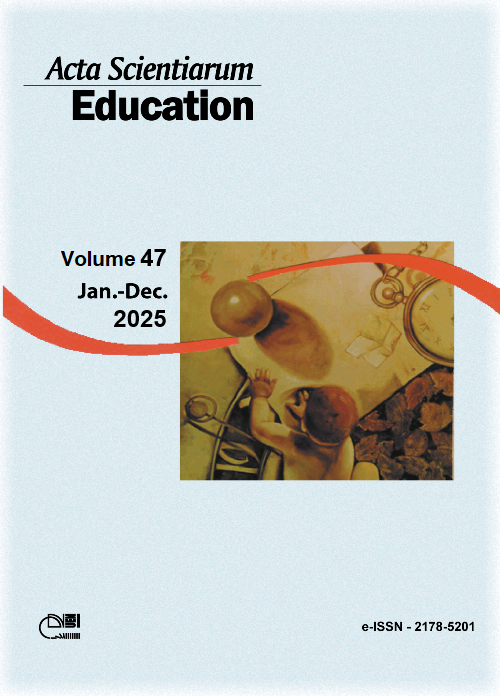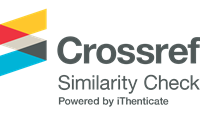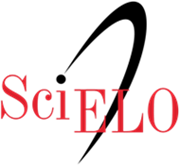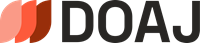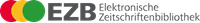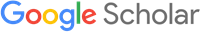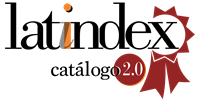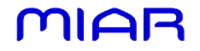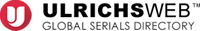Aprendizagem colaborativa em formato remoto entre professores/as de diferentes contextos educativos
Resumo
O domínio da leitura e da escrita pela população em idade escolar tem sido um desafio para a educação brasileira. Com atenção a este desafio, está sendo realizada uma pesquisa-ação, voltada à promoção de aprendizagem colaborativa, envolvendo unidades escolares de três regiões brasileiras e pesquisadores/as de sete universidades. Os objetivos da pesquisa são: avaliar a validade, viabilidade e efetividade de intervenções colaborativas, propiciadas por uma parceria universidade/escola, que levem ao adensamento de práxis pedagógicas dirigidas ao domínio pleno da escrita de alunos em contextos de diversidade, a partir da instrumentalização teórico-prática de docentes da Educação Básica, em diferentes linguagens. O desenvolvimento do trabalho ocorreu de abril de 2019 a março de 2020, de modo presencial, e desde abril de 2020 de modo remoto, com encontros síncronos, utilizando-se a estrutura para ensino remoto de uma universidade federal. Este artigo tem por objetivos analisar os ganhos e perdas na adaptação da pesquisa ao contexto remoto, bem como sistematizar e refletir criticamente os conhecimentos produzidos entre maio de 2020 e dezembro de 2021, tendo como base os registros digitais das atividades de aprendizagem colaborativa realizadas online. Esta etapa envolveu atividades de aprendizagem colaborativa de professores/as da educação básica, a partir da adaptação do modelo Lesson Study. Todas as atividades realizadas são gravadas em vídeo e algumas delas são foco das análises apresentadas neste artigo. Como resultados até o momento, verificou-se que, por um lado, a aprendizagem colaborativa entre pares, promovida na pesquisa, vem possibilitando interação entre professores/as de diferentes regiões do país (e entre as crianças), adensando e diversificando suas práxis em sala; por outro, identifica-se, ainda, apropriação pouco autônoma, por parte dos/as participantes, de pressupostos teóricos e conceitos discutidos e pactuados coletivamente como diretrizes para a elaboração de práticas pedagógicas inovadoras.
Downloads
Referências
Alves, M. T., & Ferrão, M. E. (2019). Uma década da prova Brasil: evolução do desempenho e da aprovação. Estudos em Avaliação Educacional, 30(75), 688-720. https://doi.org/10.18222/eae.v0ix.6298
Antunes, D. S. H, Santos, A. M., & Verissimo, A. C. B. (2017). Os movimentos de contraposição à escola convencional: da Escola Nova ao movimento das Escolas Inovadoras no Brasil Contemporâneo. Actas del 21º Congreso ALAS Uruguai: las encrusijadas abiertas de America Latima, la sociologia em tiempos de cambio da Asociación Latinoamericana de Sociologia, Montevideo, UY.
Both, I. J., Soares, K. C. D., & Soares, M. A. S. (2016). Formação docente e tecnologias no campo das políticas educacionais. Interacções, 12(40), 127-151. https://doi.org/10.25755/int.10690
Brandão, C. R. (2014). A educação popular na escola cidadã. Vozes.
Brasilino, A., Pischetola, M., & Coimbra, C. (2018). Formação docente e letramento digital: uma análise de correlação na base da pesquisa TIC educação. In Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Ed.), TIC EDUCAÇÃO pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro eletrônico]. Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Candau, V. M. (2003). Didática e multiculturalismo: uma aproximação. In V. M. Lisita, & L. F Sousa (Org.), Políticas Educacionais, Práticas Escolares e Alternativas de Inclusão Escolar (p. 13-25). DP&A.
Carvalho, S. M.G. E, & Pio, P.M. (2017) A categoria da práxis em pedagogia do oprimido: sentidos e implicações para a educação libertadora. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 98(249), 428-445. http://dx.doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.98i249.2729
Carvalhêdo, J. L. P., & Portela, J. L. (2020). Formação docente: a aprendizagem colaborativa como estratégia de aprendizagem. Brazilian Journal of Development, 6(11), 87409-87420. https://doi.org/10.34117/bjdv6n11-239
Charlot, B., Zanette, C. R. S., & Stecanela, N. (2022). A relação do docente com o saber e com o ensinar. Revista Educação em Questão, 60(64),1-22. https://doi.org/10.21680/1981-1802.2022v60n63ID29415
Cerbin, B., & Kopp, B. (2006). Lesson study as a model for building pedagogical knowledge and improving teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 18(3), 250-257.
Chokshi, S., & Fernandez, C. (2004). Challenges to importing Japanese lesson study: concerns, misconceptions, and nuances. Phi Delta Kappan, 85(7), 520-525. https://doi.org/10.1177/003172170408500710
Curi, E., & Borelli, S. S. (2019). Indícios de aprendizagens de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental a partir da metodologia Lesson Study. Revemop, 1(1), 44-61. https://doi.org/10.33532/revemop.v1n1a3
Dudley, P. (2013). Teacher learning in Lesson Study: what interaction-level discourse analysis revealed about how teachers utilised imagination, tacit knowledge of teaching and freshly gathered evidence of pupils learning, to develop their practice knowledge and so enhance their pupils’ learning. Teaching and Teacher Education, 34(1), 107-121. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2013.04.006
Fernandez, C. (2002). Learning from japanese approaches to professional development: the case of lesson study. Journal of Teacher Education, 53(5), 393-405. https://doi.org/10.1177/002248702237394
Ferreira, F. S., Rebelo, A. S., & Kassar, M. C. M. (2021). Professores, tecnologias digitais e inclusão escolar: desafios da política de educação especial em um município brasileiro. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 16(esp2), 1307-1324. http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v16iesp2.15127.
Fischman, G. E., Anderson, K. T., Tefera, A. A., & Zuiker, S. J. (2018). If mobilizing educational research is the answer, who can afford to ask the question? An analysis of faculty perspectives on knowledge mobilization for scholarship in education. AERA Open. 4(1), 1-17. https://doi.org/10.1177/2332858417750133
Fleuri, R. (2001). Desafios à educação intercultural no Brasil. Revista Educação, Sociedade e Cultura, 16(1), 45-62.
Freire, P., Cunha, R. C. O. B., & Pucci, R. H. P. (2022). Interlocuções de professores e organização do trabalho pedagógico no contexto do trabalho coletivo. Acta Scientiarum. Education, 45(1), 1-12. https://doi.org/10.4025/actascieduc.v45i1.54746
Freire, P. (1993). Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Paz e Terra.
Freire, P. (2001). Pedagogia dos sonhos possíveis. Unesp.
Freire, P. (2007). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra.
Freitas, L.V. e Freitas C.V. (2003). Aprendizagem Cooperativa. Edições Asa.
Jesus, D. M. D., Vieira, A. B., & Effgen, A. P. S. (2014). Pesquisa-ação colaborativo-crítica: em busca de uma epistemologia. Educação & Realidade, 39(3), 771-788.
Ibiapina, I. M. L. M. (2008). Pesquisa colaborativa: investigação, formação e produção de conhecimentos. Liber Livro.
Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014. (2014). Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, DF. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
Monge López, C., & Torrego Seijo, J. C. (2018). Factores de innovación docente durante un proceso de asesoramiento colaborativo y aprendizaje cooperativo. Actas del 2º Congreso Internacional de Liderazgo y Mejora de la Educación da Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación, Madrid ES.
Monge López, C., Domingo Sevilla, J., & Torrego Seijo, J. C. (2018). Cultura de colaboración en un centro educativo: aportaciones desde el asesoramiento. Educatio Siglo XXI, 36(2), 277-302. https://doi.org/10.6018/j/333011
Muri, A. F. (2017). Letramento científico no Brasil e no Japão a partir dos resultados do PISA [Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro].
Naumann, L. A., & Pischetola, M. (2017). Práticas de leitura e autoria na perspectiva dos multiletramentos: relato de pesquisa em escolas municipais do Rio de Janeiro. Nuances: estudos sobre Educação, 28(1), 127-146. https://doi.org/10.14572/nuances.v28i1.4739
Oliveira, I. A. (2015). Paulo Freire: gênese da educação intercultural no Brasil. CRV.
Pastoriza, B. S. (2022). Ensaio sobre intencionalidade pedagógica e tradição: um tensionamento como princípio educativo. Acta Scientiarum. Education, 44(1), e52706. https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.52706
Panitz, T. (1996). A definition of collaborative vs cooperative learning. http://colccti.colfinder.org/sites/default/files/a_definition_of_collaborative_vs_cooperative_learning.pdf
Rojo, R., & Almeida, E. (2012). Multiletramentos na escola. Parábola Editorial.
Soares, M. (2018). Alfabetização: a questão dos métodos. Contexto.
Torrego Seijo, J. C., Monge López, C., Pedrajas, M. L., & Martìnez, C. (2016). Formación del profesorado en aprendizaje cooperativo y alumnos con altas capacidades: un enfoque inclusivo. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 9(2), 91-110.
Torres, P. L., Alcantara, P., & Irala, E. A. F. (2004). Grupos de consenso: uma proposta de aprendizagem colaborativa para o processo de ensino-aprendizagem. Revista Diálogo Educacional, 4(13), 129-145.
Torres, P. L., & Irala, E. A. F. (2021). Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. In P. L. Torres. (Org.), Ciência, inovação e ética : tecendo redes e conexões para a produção do conhecimento (pp. 91-128). Senar.
Tripp, D. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, 31(3), 443-466.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E DIREITOS AUTORAIS
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade.
Os direitos autorais pertencem exclusivamente aos autores. Os direitos de licenciamento utilizados pelo periódico é a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): são permitidos o compartilhamento (cópia e distribuição do material em qualquer suporte ou formato) e adaptação (remix, transformação e criação de material a partir do conteúdo assim licenciado para quaisquer fins, inclusive comerciais).
Recomenda-se a leitura desse link para maiores informações sobre o tema: fornecimento de créditos e referências de forma correta, entre outros detalhes cruciais para uso adequado do material licenciado.